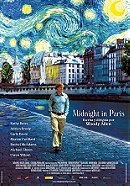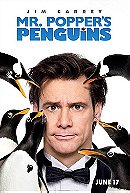Filmes 2011 - Diário (Comentários)
Sort by:
Showing 1-50 of 117
Decade:
Rating:
List Type:
Bastam apenas dois homens, opostos por suas crenças, e um humilde apartamento para que se desenrole a trama de um dos filmes mais profundos em relação a fé e descrença - ou, se preferir, a continuidade da vida versus o fim dela. A partir de uma continua conversa filosófica entre o personagem negro que tenta convencer - através de um discurso religioso - o personagem branco - ateu e cético - de abandonar a ideia do suicídio (que antes este tentara cometer, até ser impedido pelo primeiro), "The Sunset Limited" se desdobra através de uma narrativa que flui perfeitamente apenas pela força de seus poderosos e orgânicos diálogos e pela fibra dramática de Samuel L. Jackson e Tommy Lee Jones, que encarnam suas figuras com intensidade e envolvimento. Consumido por um pessimismo com a vida e com a humanidade em geral, manifestados pela visão fria e realística que tem sobre o mundo, levando-o a ignorar tudo e não esperar absolutamente nada de bom de um futuro, o personagem de Lee Jones possui uma profunda, porém recatada amargura que é contrastada ao eloquente cinismo do personagem de L. Jackson, que apesar de tudo, acredita realmente que possa persuadir o homem e auxiliá-lo com suas palavras de esperança e religiosidade. Desempenhando uma direção astuta, que exibe grande destreza ao lidar com a limitação de seu cenário, o também diretor Tommy Lee Jones ainda investe em conduções e enquadramentos divertidamente sugestivos (como quando sutilmente conduz e capta seus personagens em um momento à la psicanálise no divã, com Branco deitado no sofá enquanto Preto o faz perguntas relacionadas a seus pais (um tema habitualmente evocado por psicólogos) logo atrás dele, sentado em uma poltrona). Indo de um aparente discurso religioso que quase chega a abalar o personagem de Lee Jones até uma visão amarguíssima, porém concordável e verdadeira (apesar da diferença com que podemos lidar com ela) sobre a condição de nossa existência dentro desse mundo, “The Sunset Limited” ainda consegue encontrar o encerramento ideal para sua trama, permanecendo fiel a tudo o que foi questionado durante sua uma hora e meia de duração e falando diretamente com o espectador de forma devastadora, assim como é devastador o estado emocional do personagem mais fragilizado durante o final do longa. “Está bem assim?”, pergunta um dos dois homens ao final do filme. Está bem assim?
caetanobcb's rating:


The Green Hornet (2011)
A única maneira de realmente engolirmos a puerilidade do roteiro de “The Green Hornet” é encará-lo como uma paródia sobre uma dupla de heróis noturnos. Mas quem dera fosse tão simples encará-lo dessa forma, pois “The Green Hornet” pouco sabe se quer ser uma paródia (mas definitivamente quer ser engraçado) e pouco sabe se quer ser também um longa de ação eficiente (mas definitivamente quer apelar para a destruição massiva de seus sets de filmagens para assim causar alguma empolgação em quem assiste). Pode-se dizer que o filme de Michel Gondry quer ser os dois, mas infelizmente não cria boas ironias ou situações minimamente engraçadas (salvando-se algumas falas engraçadas aqui e ali) e assume uma trama esquemática que termina de cair no abismo quando nem ao menos consegue criar bons personagens para acompanharmos durante sua aventura. Temos no filme a companhia do milionário Britt como o Besouro Verde, um herói completamente estúpido e infantil; e por assim ser, Britt não é um personagem que oferece ao espectador um olhar engraçado sobre sua idiossincrasia em contraste com seu almejo em ser um herói, mas sim um profundo desgosto por nunca ser interessante e carismático - o que é um grande malfeito, já que Seth Rogen, seu interprete, possui um carisma natural inegável. E não só Britt é um péssimo protagonista, nulo em personalidade e complexidade, como também é prejudicado pela interpretação do próprio Rogen, que encara o seu tipo habitual, não trazendo nenhuma variedade para uma figura já ruim. Seth Rogen ainda lança mão de uma inexpressividade evidente nos momentos em que seu personagem deve sentir algum pesar e apenas sabe proferir os diálogos engraçados com um tom sem personalidade e infantil. Aliás, a infantilidade é regente neste longa, revelando ainda mais personagens desinteressantes, como o vilão canastrão encarnado por Christoph Waltz, que é ridículo em objetivos e ações; o mesmo vale para o companheiro do Besouro Verde, Kato, que apesar das várias facetas que possui, se entrega à estupidez junto de seu parceiro Britt e sai pelas ruas causando alvoroço como se não possuísse um mísero relance de inteligência. “The Green Hornet” ainda tem seus momentos satisfatórios quando concebe algumas cenas de combates visualmente impressivas e outras que acabam se tornando, eventualmente, engraçadas (como aquela em que Britt e Kato brigam na mansão do primeiro, destruindo tudo o que veem pela frente). Mas mesmo se saindo bem nessas pouquíssimas cenas, com que pretexto as temos? Pois “The Green Hornet” parece atropelar qualquer senso de bom desenvolvimento para ir direto ao que lhe interessa, especialmente em seu início, o que já expõe seu aspecto pueril. E para piorar, por trás disso tudo, o roteiro ainda nos faz aturar uma forma totalmente esquemática de avançar com sua narrativa, passando pelas gastas etapas como: o desentendimento entre os parceiros; o romance incrustado na história através da dispensável personagem de Cameron Diaz; a rendição do protagonista (efetuada em uma cena ridícula e forçada em que Britt se lembra/decifra as ações de seu pai - e que não funciona nem como uma piada); e, finalmente, o clímax cheio de ação, explosões, tiros e que aposta em cenas como a de um carro pela metade destruindo repartições no décimo andar de um edifício para provocar entusiasmo e excitação no espectador - entretanto, a aparência sem imaginação da trama e os risíveis comportamentos dos personagens impedem o nosso envolvimento com o clímax do filme e de extrairmos qualquer sensação dele. O diretor Michel Gondry acaba não devendo, mas pouco contribuindo com sua direção convencional para este “The Green Hornet”, e o roteiro de Seth Rogen e Evan Goldberg é um completo desastre, tanto em termos narrativos quanto em aspirações cômicas. O Besouro Verde não empolga, não traz graça, não traz interesse e passa batido com este longa metragem pouco apreciável.
caetanobcb's rating:


“The Roommate” tinha tudo para ser um bom thriller de horror. A premissa, envolvendo a psicopatia da colega de quarto da protagonista possui todos os elementos básicos para compor o que um terror deste gênero precisa. Mas o longa falha veemente em executar seus pontos essenciais, que qualificam o filme em uma embaraçosa besteira ao invés de um thriller barato porém eficiente. Minka Kelly, encarnando a protagonista Sara, demonstra um charme e carisma irretocáveis, mas sua personagem é absolutamente subestimada pelo roteiro precário, que aposta apenas na beleza e encanto da atriz para que nos importemos com ela; e de certa forma, até nos importamos, mas mais por nos imaginarmos em sua situação do que por ela mesma. Sara acaba sendo apenas uma peça, uma protagonista genérica para sofrer nas mãos de sua maligna e obsessiva colega de quarto, e quando ela corre risco de vida, não há porque temermos sua morte, já que tanto faz se ela continua viva ou não. Já a personagem de Leighton Meester, a colega de quarto Rebecca, surge como uma figura irritantemente ameaçadora exatamente por ser genérica, assim como Sara. Ainda assim, há uma preocupação em desenvolver sua personagem, que carrega um mistério consigo mesma, mas que rapidamente deixa de ser um enigma, passando a ser óbvio para o espectador o que se passa com ela. Dessa forma, com o mistério acabado, só podemos esperar por suas cada vez mais perversas ações. Em dado momento, porém, somos intrigados por seus comportamentos e aparições, que chegam a sugerir um pano de fundo sobrenatural para a história, mas que no final não passa mesmo da loucura da personagem. Ou seja: o despiste funciona até certo nível, mas para isso precisa soar inverossímil, barato e trapaceiro. Também não há como não ignorar a estereotipização dos personagens em “The Roommate”: enquanto Sara surge como uma típica jovem do interior que chega à cidade grande para estudar (assim como é comentado quando a própria se compara com a protagonista de “Devil Wears Prada” - uma semelhança que mesmo reconhecida, não convence), seu namorado vivido pelo boa pinta Cam Gigandet parece não entrar no personagem, sendo apenas ele mesmo com excesso de “mocinho esperto e bem humorado” em seus diálogos. Além deles, Rebecca é apresentada como uma louca clichê, que tem seu psicológico agravado ao ponto de não hesitar em matar ou afastar uma pessoa apenas para ter a exclusividade de sua amiga (mesmo que essa não hesitação caia em contradição quando Rebecca parece deixar o namorado de Sara vivo apenas porque sua presença é conveniente para o restante da trama) - e por mais indícios que o roteiro tente fornecer (como suas orelhas não furadas, seus desenhos, os eventos que ocorrem durante a estadia na casa de seus pais), sua figura nunca convence e seu problema psicológico nunca é explorado, ele apenas existe e serve como pretexto para conceber uma personagem ambígua e que causa ameaça para a protagonista e todos ao seu redor. “The Roommate”, infelizmente, ainda encontra espaço para dispor de diversas convenções de filmes de horror, como a trilha sonora, que é mal utilizada tanto quando tenta sair do comum e ser moderna, ao empregar músicas pops nas cenas, quanto quando emprega toques incidentais gritantes e genéricos, nos determinando os momentos de suspense e apreensão sem nenhuma sutileza. Podemos testemunhar também sequências e comportamentos de personagens tirados sem nenhuma alteração de outros filmes de terror (como as sequências na biblioteca e no banheiro nos dizem), além de um típico clímax que apela para uma culminação agitada dos eventos, soando clichê e ridículo demais. O final do filme ainda sugere um trauma (apesar de não parecer) da protagonista após todos os acontecimentos. Mas com um namorado daqueles ela provavelmente esquecerá de tudo o que aconteceu. Pelo menos é essa a impressão que fica quando chegamos aos créditos. Passageiro como um andarilho, este “The Roommate”.
caetanobcb's rating:


Rio (2011)
Em “Rio” nós presenciamos uma Rio de Janeira encantadora, colorida, intensamente regada de práticas esportivas, pessoas em praias, músicas e carnaval - basicamente tudo o que a cidade tem de verdadeiramente maravilhosa, porém acentuada convenientemente para as óticas de uma animação cuja proposta é, acima de tudo, divertir. Por outro lado, “Rio” também não se esconde completamente por trás do glamour das tão exaltadas qualidades da cidade e faz questão de incluir em sua história pequenas passagens na favela - ao demonstrar pela superfície como o local é diferente das entusiásticas praias, do corcovado e afins -, além de ter como vilões de sua trama uma quadrilha que contrabandeia aves. Ainda que apresente um grande número de discrepâncias em relação ao que é realmente a cidade do Rio de Janeiro, o roteiro de “Rio” o faz com temperança, não soando desrespeitoso, tampouco ridículo. E mesmo quando somos apresentados a momentos aparentemente embaraçosos e mal-sugestivos, como quando macacos arremedam os ladrões de turistas ao roubarem seus pertences e quando brasileiros falam inglês fluente, é fácil indultá-los, uma vez que os personagens bilíngues surgem como uma alternativa (preguiçosa, sim, mas vá lá...) para o enredo fluir sem ter de se preocupar com traduções, e os macacos são divertidos e representam de uma maneira inocente o que realmente acontece no Rio de Janeiro - e, francamente, não caberia ao longa de Carlos Saldanha perfazer comentários sociais apropriados, portanto, as meras sugestões espirituosas do diretor acabam funcionando na medida certa. E talvez seja por isso que em circunstâncias onde o diretor tenta criar algum tipo de drama com a situação de um pobre garoto da favela (inclusive revelando a desnecessária desconfiança de um dos personagens para com o menino para ressaltar seu ponto), o filme incomode tanto; além de ser piegas e demasiadamente óbvio, o personagem do garoto é tão mal desenvolvido que vê-lo ao final do filme em certa cena junto dos personagens Túlio e Linda chega a ser banal e ridículo. O balanço da caracterização da história (que usa dos elementos de cena característicos da cultura brasileira e do Rio de Janeiro como interessantes formas de desenvolver sua trama), no entanto, acaba por ser positivo no fim das contas. Só não é positiva a história do longa em si, que carece de bons personagens, reviravoltas e até de humor (embora o filme não tente ser engraçado o tempo todo, ele peca em muitas de suas piadas, enquanto noutras acerta, mas sem tirar mais do que um simples riso do espectador). A narrativa de “Rio” segue uma linha convencional, e seus personagens nunca conquistam empatia o suficiente para cativarem ou nos fazer importar com suas questões. Na mesma marcha anda a trilha instrumental de John Powell, que figura por entre os toques de ação e melodrama sem transpor o padrão de filmes aventurescos. Já as canções do longa surgem sempre divertidas para compor a atmosfera de determinadas sequências (incluindo passagens musicais aqui e acolá; sempre boas em si, mas pouco marcantes e relevantes para o desenvolvimento da história), misturando toques conhecidos da bossa nova e do carnaval com letras originais em inglês. Se aliado às músicas e revelando-se como o verdadeiro mérito do filme está a fotografia e o desenho de produção, que ajudam a compor o deslumbrante e adulador visual do longa, abrilhantando o cenário do Rio de Janeiro tanto durante o dia quanto durante a noite, seja na favela, na praia, no meio urbano ou na floresta. Basicamente, “Rio” é um filme que fica aquém do que propõe. Embora esbanje competência visual, pouco se importa em construir melhores personagens - que sendo aves ou humanos nunca se mostram como figuras fortes e de personalidade - ou uma história desafiadora, original e de momentos dramáticos e cômicos mais refinados. É, ao contrário de muitas animações atuais, cuja emoção e apuro visual andam juntos, um filme que funciona totalmente envolta de uma cidade apenas para tirar dela os mais pertinentes destaques sonoros e visuais e compor um passatempo de diversão vazia, porém minimamente lúdico.
caetanobcb's rating:


Hall Pass (2011)
Os contornos humorísticos que “Hall Pass” logo estabelece em sua narrativa são típicos e capciosos. Típicos pois aqui somos apresentados ao que costumeiramente nos é oferecido pelas comédias americanas cujos roteiros brincam com temas como as observações e percalços matrimoniais, os fetiches e o sexismo masculino e, cá e lá, as situações escatológicas - tudo isso sem rejeitar o comumente pano de fundo moral que é enrustido pelas piadas e brota quando é conveniente para a sensibilização dos personagens. E finalmente, os contornos humorísticos de “Hall Pass” são capciosos pois problematizam o funcionamento das piadas - que raramente saem do lugar-comum e geralmente são, por suas próprias naturezas, forçadas e de gosto duvidoso - e as induz ao fracasso. Porém, é sempre importante ressaltar que nada no humor é uma regra, e portanto nunca será o conteúdo que necessariamente levará o espectador ao riso, mas sim o modo como este conteúdo é manejado e conduzido até o efeito da piada - o que, no caso deste filme dos irmãos Farrelly, se torna justamente o problema e principal agente do insucesso do longa. Há pontualmente no roteiro de “Hall Pass”, entretanto, algumas cenas que acolhem um humor bem sucedido, mas estas são suprimidas pelo roteiro acentuadamente previsível que coíbe tanto o êxito da maioria das piadas quanto o desenvolvimento de seus personagens, já que em absolutamente todas as cenas ocorre uma espécie de inversão de situação: se um personagem toma uma atitude convicta, ele certamente será mostrado como equivocado; se um personagem se dá bem, ele inevitavelmente se dará mal logo após; se os personagens comem bolinhos de maconha, eles, sem dúvida, não se safarão dos problemas que isso pode os causar. Quando há uma pausa para o personagem pensar no que faz, talvez até de uma forma emotiva, pode-se saber que o humor virá logo em seguida para quebrar o clima da cena e desconjuntar o que o personagem tinha dito. Dessa forma, podemos sempre, sem exceções, esperar por um insucesso dos personagens ou um equívoco deles diante de situações em que as coisas parecem dar certo, tornando a experiência do filme demasiadamente previsível. E se não bastasse essa falha viciosa e sistemática do roteiro, como podemos vislumbrar uma fuga da previsibilidade quando a moral e o clichê típico da trama permeiam o filme de tal forma que quando o personagem de Owen Wilson se envolve com a simpática garota do café, não conseguimos depositar olhares crédulos no casal, já sabendo, ao invés, que no final ele muito provavelmente irá repensar no seu relacionamento e voltar contente e determinado para os braços de sua mulher? Não há, perceptivelmente, um arrisque dos roteiristas, uma tendência para reviravoltas que não soem apenas como situações passageiras para que no final tudo termine exatamente como imaginamos que terminaria. Ainda se revelando altamente desinspirado ao criar personagens secundários (o amigo gordo que só pensa em fazer suas necessidades é clichê, ao passo que o personagem de Richard Jenkins, um velho despojado e manhoso com as mulheres, não só é clichê como também artificial), “Hall Pass” ainda se safa com a boa e natural interpretação de Owen Wilson (Rick), embora não obtenha o mesmo êxito com Jason Sudeikis (Fred), cujo personagem é posto como equivalente ao de Wilson, porém passa longe de ser tão bom quanto o mesmo, comprometendo a performance de Sudeikis e se revelando como mais um pecado do filme, que apesar de querer igualar os dois personagens (embora dedique muito mais tempo para introduzir o personagem de Wilson - o que também é um erro), sempre se vê melhor servido com Rick do que com Fred. Depois de muito prenunciada, a previsibilidade acaba por dominar o filme ao seu fim (sem antes deixar de apostar em um ato final exagerado e comum que eleva as ações dos personagens para níveis catastróficos), com seu desfecho típico e moral que acaba por atestar a tremenda falta de ousadia dos irmãos nessa comédia que já assistimos antes, mas que fora repetida aqui com atores diferentes e uma historinha levemente diferenciada, porém igualmente e quase inteiramente sem graça.
caetanobcb's rating:


Paul (2011)
O potencial conceitual que “Paul” possui pouco produz boas piadas, bons personagens ou uma boa história, sendo levemente engraçado e divertido apenas por alguns aspectos isolados de seu roteiro e da eficiente direção de Greg Mottola, além de seu ato final que apresenta algumas boas surpresas, mas que tampouco é capaz de ajudar por completo um filme em que se falta muita solidez e inspiração. Prestando diversas referências a histórias ficcionais sobre alienígenas, bem como os preceitos mitológicos construídos envolta de suas figuras, o roteiro de “Paul” recorre a este artifício não apenas para incrementar o caráter nerd de seus protagonistas, mas para também evocar algumas inesperadas e impagáveis alusões - como a participação de Sigourney Weaver, interpretando uma mulher robusta assim como fizera em “Alien”, surgindo como uma referência clara ao seu filme e sua personagem; além da divertida cena que por meio de um flashback nos revela o alienígena Paul dando ideias para Steven Spielberg conceber seu aclamado “E.T.”. Porém, o roteiro de “Paul” não consegue se sustentar o tempo todo com suas aspirações referenciais, e assim recorre a muitas referências óbvias e manufaturadas, que brincam com o senso-comum sobre a mitologia dos aliens da exata forma como poderíamos imaginar ao já entendermos o conceito do longa. Além disso, é incômodo e no mínimo desinpirado as recorrentes piadas fáceis envolvendo palavrões, ervas e o fato dos protagonistas parecerem gays. Outra grande deficiência que o roteiro do filme revela ao longo do caminho fica por conta do desenvolvimento de seus personagens, investindo sempre nos trâmites narrativos mais convenientes para eles, os ajustando conforme a trama antevê e acabando por artificializá-los e nunca buscar neles a profundidade necessária para uma melhor exposição de suas personalidades - o que os deixa todos desinteressantes. Em determinada circunstância, os poderes especiais de Paul mudam completamente a personalidade religiosa de Ruth, surgindo no momento como uma piada interessante, mas soando posteriormente apenas como uma maneira fácil de se livrar do problema de ter uma personagem religiosa confrontando as ideias dos amigos nerds e seu companheiro alienígena - e algo semelhante acontece no final do longa, quando o momento dramático em que Graeme leva um tiro é completamente empalidecido devido ao nosso conhecimento de que Paul, com seus poderes, pode curá-lo sem muitas dificuldades (e já conhecendo a falta de imaginação e obviedade narrativa do longa, a previsão de que tudo ali ficaria bem foi ainda mais reforçada). Alguns personagens, no entanto, se salvam de serem desinteressantes; é o caso do agente interpretado por Jason Bateman, um oficial ridiculamente canastrão que ainda assim demonstra comportamentos bastante hilários e particulares, bem como a dupla de agentes servis que o acompanha e que revela uma igualmente engraçada interpretação de Bill Hader. E se os personagens principais, Graeme, Clive, Paul e Ruth ainda oferecem alguns momentos divertidos e engraçados, não é errado imaginar que isso se deva aos ótimos Simon Pegg, Nick Frost, Kristen Wigg e - no caso de Paul - à dublagem de Seth Rogen juntamente com o desenho de produção de seu personagem, que apesar de ainda pecar por não parecer completamente orgânico em tela, não compromete a interação do elenco em carne e osso com sua figura. Apostando em um ato final empolgante, ainda que convencional, “Paul” desperta a atenção pelas cenas de ação concebidas por Greg Mottola, desempenhando uma direção competente e eficaz durante todo o filme e especialmente no fim dele. Ainda surgindo com reviravoltas agradáveis em um desfecho que só peca pela dramatização frágil em um momento, “Paul” é convencional até o seu fim, e sequer consegue aproveitar sua condição satírica para amenizar os clichês narrativos, porém ainda tem seus pequenos e isolados méritos, que entretanto não são suficientes para proporcionar algo inteiramente satisfatório.
caetanobcb's rating:


Limitless (2011)
A droga que o personagem de Bradley Cooper consome neste “Limitless” representa o oposto das drogas de nossa realidade. Enquanto ela oferece os mesmos riscos de vida e efeitos colaterais que qualquer outra droga oferece, a NZT-48, ao invés de proporcionar um escapismo da realidade, uma distorção dela, uma experimentação alucinógena do cotidiano, faz exatamente o contrário, aumentando a capacidade do cérebro e iluminando a percepção cerebral até a sua mais extrema lucidez. Este conceito contra-análogo soa interessante, mas “Limitless”, embora conte com uma trama que é pelo menos eficiente no aspecto rítmico - revelando-se como um filme envolvente -, peca por sua falta de interesse no aprofundamento de sua ideia, e prefere sempre o caminho mais fácil, forçado ou auto-indulgente para desenvolver sua narrativa. O protagonista Eddie, interpretado por um Bradley Cooper com afinação, sabendo evocar seu charme natural bem como seu nervosismo e inquietação quando necessário, é apresentado de forma bem humorada e logo conquista a empatia do espectador, que junto com ele embarca em uma excitante possibilidade quando este consome a droga que intensifica as atividades de seu cérebro - e por muitas vezes durante a trama de “Limitless”, a impressão deixada é a de que o roteirista está impreterivelmente interessado na exploração das divertidas possibilidades que a habilidade mental do protagonista sob o efeito da droga pode proporcionar. Assim, testemunhamos cenas arranjadas sem muita razão apenas pelo caráter lúdico destas, como a da luta em que Eddie se aventura em uma estação de metrô, evocando diversos meios de aprendizados (de filmes do Bruce Lee até documentários do Nat Geo) para se dar bem- o que nos remete direto a uma cena chave no final da narrativa em que o personagem realmente precisa lutar, entretanto, a essa altura o roteiro não surge com nada criativo ou oportuno, dando lugar a soluções forçadas e que beiram o ridículo. Mas também há muitas situações e dilemas para o protagonista de “Limitless”, porém são todos óbvios. O declínio do personagem é antevisto, nenhum dos percalços enfrentados por ele parece aspirar criatividade. Ainda que uma trama conspiratória tome forma durante a história, ela é desenvolvida de forma inorgânica, gerando situações que mais estimulam a descrença do espectador do que um interesse pelo que acontece. O que acontece, aliás, é tudo o que tem de mais evidente em “Limitless”, já que a reflexão em cima do personagem ou do que a droga o causa (e causa a outros personagens), ou seja, as entrelinhas, é praticamente ausente ou superficial. A narração em off, inclusive, não apresenta muitas razões para ser utiliza, contribuindo apenas com dispensáveis explicações das ações do personagem ou com algumas piadinhas engraçadas, mas nem um pouco com informações importantes. Contando com um terceiro ato artificial e um desfecho inócuo e auto-indulgente, “Limitless” não é constituído apenas por pontos negativos, já que o trabalho visual empregado no longa não só surge como um dos elementos mais impressionantes deste, como também o salva de ser um completo desperdício de ideia. A direção realizada por Neil Burger, por exemplo, investe em curiosos movimentos de câmera que procuram transmitir a sensação de alteração de Eddie, ao passo que as ilustrações dos recursos buscados pela mente dos personagens para compor suas ações e ideias revelam-se como um trabalho desafiador e interessantíssimo da montagem. Por fim, a fotografia impressiona por seu funcionamento sincrônico com o estado dos personagens, sendo intensifica conforme o personagem se ponha sob o efeito da droga, enquanto é esfriada de forma conveniente para expressar o estado sóbrio que os personagens experimentam. “Limitless”, apesar de tudo, consegue ser envolvente e interessante em conceito e execução, mas o desenrolar de sua trama é tão desleixado e óbvio que ironicamente nos leva a pensar que seus roteiristas não dispunham de nenhuma pílula de NZT-48 para tomar enquanto escreviam o filme.
caetanobcb's rating:


Unknown (2011)
“Unknown” é um thriller de suspense eficiente, porém, não é eficaz. A diferença é que enquanto o filme reproduz uma trama conspiratória com competência, ele não faz nada mais do que simplesmente reproduzi-la, sem inovações e sem originalidade. Como consequência disso, o filme nunca deixa impressões, nunca provoca efeitos de tensão, suspense ou drama, mas apenas conduz sua narrativa e nutre a atenção do espectador com o mistério de sua trama, que embora envolvido por uma história genérica, ainda permanece obscuro e relativamente interessante, mas conforme ele é desvendado, a indiferença é a principal reação surtida em quem assiste. A direção de Jaume Collet-Serra tem seus suspiros de expressão, especialmente no enfoque que confere ao personagem de Liam Neeson nas cenas em que este tenta entender o que se passa a sua volta, exprimindo a confusão de sua mente com um movimento de câmera que, a partir de um close, inclina suavemente em frente ao rosto do personagem, denotando também a agonia do momento em que este encara a própria realidade que acredita ser verídica como um complô de mentiras construído a sua frente. Acordando de um coma, Martin Harris (Liam Neeson) é contrariado por tudo e todos quando tenta provar sua identidade, que parece ter sido roubada. Martin ainda acredita em quem ele é, e por isso confronta qualquer um que o contrarie - até mesmo sua mulher, que também parece desconhece-lo -, e mais tarde passa a confrontar a si mesmo, achando que o problema é realmente com ele. Uma vez desvendada, a tramóia do filme não soa espetacularmente engendrada, apenas competente no sentido de esboçar uma estória de conspiração interessante, mas que exagera tanto nos usos de lugares-comuns de filmes de gêneros semelhantes, que a própria premissa de “um homem que acorda de um coma e repentinamente não é mais quem acredita ser” já soa desgastada. O mesmo pode ser dito sobre o clima de desconfiança instaurado na narrativa, bem como os cada vez mais limitados recursos do protagonista para seguir adiante com sua jornada em busca do entendimento de sua situação, ambos surgindo de forma comum e desinspirada. Ainda investindo em situações clichês e que chegam até a constranger (um homem invade o hospital; sequestra o protagonista que está vulnerável; a enfermeira chega e ela é morta ao ter seu pescoço facilmente quebrado. O protagonista, dopado, a vê caindo bem no seu campo de visão. Quando o homem sai da sala, o protagonista tenta alcançar a tesoura no bolso da enfermeira morta. E apesar de quase ser pego no flagra pelo sequestrador, o protagonista eventualmente consegue a tesoura e se safa de onde está), o roteiro de “Unknown” também não abdica de longas (mais longas do que deveriam) sequências de ação desenfreada (de preferência envolvendo perseguições) e lutas “eletrizantes” travadas uma hora ou outra. Porém, ainda que se mostre demasiadamente comum e por isso mesmo carente de emoção, a proposta reflexiva evocada pelo roteiro de “Unknown” é curiosa, e pelo menos o desenvolvimento do personagem principal (que, não se pode deixar de dizer, é representado por Liam Neeson com competência) é executado de tal forma que ao final do filme, finalmente podemos sentir alguma sensação vinda da tela. É curioso, por exemplo, como de um ponto de vista psicológico, poderíamos até dizer que Martin esqueceu voluntariamente de sua vida para assumir uma que lhe parecia ser mais justa e pacífica. Assim, seu esquecimento surge como a busca da purificação, denotado no instante final do filme onde o personagem, mesmo já recordado de tudo o que vivera, assume aquela condição inocente como forma definitiva e se purifica por completo, seguindo uma nova vida agora ao lado não de sua falsa mulher e parceira de crimes, mas daquela que o ajudou verdadeiramente nos piores momentos que teve de enfrentar. É uma pena, então, que “Unknown” demore atingir este aspecto humano de seus personagens (a personagem de Diane Kruger, por exemplo, passa o filme todo como uma simples e inexplicavelmente motivada ajudante de Martin), e que pouco explore isso durante o restante de sua narrativa ordinária.
caetanobcb's rating:


Hanna (2011)
Quando se começa a assistir um filme como “Hanna”, logo pensa-se que este será um sensível e peculiar estudo de personagem, mas conforme chegamos ao seu final, o filme nos faz refletir novamente sobre suas próprias pretensões, já que terminando do jeito que terminou, este mais se parece com um longa cujo escopo é o espetáculo visual do que a reflexão em torno de sua protagonista ou das metáforas que sua história possivelmente carrega. Sendo assim, portanto, o maior mérito deste filme reside mesmo na regência visual que executa, acrescendo uma narrativa que apesar de não ser rica em emoções (e inclusive falhar em evocá-las com maior dramaticidade) e se revelar simplória demais, acaba falando mais com suas imagens e assim não comprometendo tanto seu resultado final como obra. Interpretada por uma brava e sensível Saoirse Ronan, Hanna foi criada educada no meio de uma localidade na neve por seu pai de criação (um ex-agente que fugiu com a biologicamente aperfeiçoada Hanna), a ensinando técnicas de ataque e defesa bem como saberes mundanos sobre os mais variados campos do conhecimento. Tudo isso foi feito para que Hanna pudesse viver no mundo social e urbano algum dia. Mundo urbano que contém à sua espreita a personagem de Cate Blanchett, que, assim como pretendia tempos atrás, quer eliminar a garota concebida para ser um soldado perfeito. Hanna, portanto, decide que está preparada para conhecer o mundo, e para isso seu pai a diz que ela deve acionar a atenção da personagem de Marissa (Blanchett) através de um dispositivo, já que ela irá atrás da garota e a caçada só terminará quando uma das duas estiver morta - logo, o pensamento seria matar Marissa primeiro, mas é inconcebível e ilógico que o roteiro tenha lançado mão desta situação para colocar Hanna e seu pai imediatamente em perigo após escaparem de seu exílio. Afinal, que estupidez é essa chamar a atenção de Marissa e de todo um grupo de agentes de uma organização de inteligência apenas para confiar nas super habilidades da menina Hanna que logo trataria de eliminar seu carrasco? Por que não simplesmente fugirem e se esconderem? Perdoando este absurdo, o que se desenvolve ao longo da narrativa do filme é uma muito bem equilibrada trama que divide suas atenções entre a jornada de fuga de Hanna, onde conhece algumas pessoas, e pontuais cenas em que seu pai (Eric Banna, ótimo), e Marissa e seus subordinados, executam, respectivamente, sua fuga para o porto seguro onde encontrará garota, e a busca por ela. Com uma direção de aspecto ora eletrizante, ora sensitiva, Joe Wright concebe verdadeiros espetáculos visuais, primeiramente investindo em cortes secos que, aliados à montagem, estabelecem, especialmente nas cenas de ação, um ritmo frenético e um clima inquietante. Com a mesma aplicação, o diretor brinca com a câmera durante sequências mais agitadas, sempre entregando um resultado positivo, seja conduzindo passagens com o objeto na mão a fim de construir cenas mais objetivas e frias ou seja com um pontual e excepcional plano sequência que resiste à tentação de executar um corte durante sua culminação final, uma cena de luta espetacular e que mesmo claramente constituída por eventuais efeitos visuais, jamais perde sua verossimilhança (qualidade que, aliás, o filme preserva com diligência, mesmo não tendo, digamos, a “obrigação” de a manter, já que foge muito do que chamamos de verossímil). A fotografia é outra que contribui muito ao realçar o visual do filme, especialmente no enfoque paisagístico (neve, deserto) e nos closes quase microscópicos que Wright às vezes executa. Ao passo que a direção de arte concebe uma agência de inteligência com uma roupagem sofisticada, moderna e apropriada, nunca caindo no ridículo. E, finalmente, a trilha sonora minimalista e entusiástica não só pontua as cenas com devido brilhantismo, como também é eficaz ao evocar a tensão por antecipação. Por fim, é interessante destacar o ótimo elenco de “Hanna” e seus interessantes personagens, que, embora ainda encontre na agente vivida por Blanchett uma figura tipicamente unidimensional, lança mão de personalidades agradáveis em cada um deles (com destaque para a simples porém carismática personagem de Olivia Williams e o divertidamente esquisito personagem de Tom Hollander). Assim como diz a descrição que o pai de Hanna lê para ela sobre música, “Hanna”, o filme, é uma combinação não só de sons, mas também de imagens que impressionam, tiram o fôlego e constituem uma obra bela em forma e que expressa emoção. Emoções mais emanadas de seu exercício visual, sim, mas ainda assim emoções.
caetanobcb's rating:


Se comprometendo a criar um envolvente romance dentro de uma história de ficção-científica, “The Adjustment Bureau” ainda nos oferece uma narrativa ritmada e convidativa que ainda trabalha aspectos metafísicos de nossa humanidade através de menções claras a eles - posto tudo isso, este filme, com exceção de alguns pecadilhos e de seu final fraco e sem imaginação, pode ser adequadamente definido como um passatempo de qualidade e reflexivo. Estabelecendo de maneira hábil, rápida e cativante a introdução de seu protagonista, através de uma sequência muito bem montada logo no início do filme - onde resumidamente passamos a conhecer a personalidade e o status social do personagem de Matt Damon -, o roteiro de “The Adjustment Bureau” destaca-se por fincar com firmeza seus personagens e suas relações durante a trama, o que também é mérito dos atores, que, desempenhando interpretações convincentes, oferecem uma química palpável. A química, no caso, é especialmente compartilhada por Matt Damon e Emily Blunt. E é curioso que, durante certo momento do filme, a química entre o casal é citada como aspecto crucial da relação dos dois, demonstrando assim a perfeita sintonia que Damon e Blunt estabelecem como atores e como personagens. Ainda apoiado por um elenco secundário no mínimo interessante, o ator coadjuvante que mais se destaca nesta ficção é o sempre excelente Anthony Mackie, que aqui demonstra mais uma vez ter uma notável presença de cena (mesmo quando seu personagem não é designado a fazer muito) e um afável carisma (mais denotado quando este finalmente ganha mais tempo em tela). Fechando o elenco, as presenças de John Slattery e Terence Stamp, embora em papéis menores tanto em tempo de cena quanto em dimensão de seus personagens, compõem com competência figuras misteriosas e imponentes. Inserindo elementos de nossa cultura para incrementar mais realismo à ambientação do filme (como as comitivas do personagem de Damon e suas participações em programas de tevê que de fato existem), o roteiro se sai bem, embora, por outro lado, seja árduo para o espectador conciliar o realismo com os conceitos de ficção-científica apresentados no início do filme. Mas conforme a aparentemente absurda trama de pano de fundo do filme ganha novos contornos, o casamento entre realidade e ficção se torna mais aceitável, e até mais instigante. É interessante, por exemplo, como os “agentes do destino” da história - que no princípio mais se pareciam com um grupo canastrão com poderes ilimitados saídos de qualquer ficção-científica barata - começam a apresentar suas imperfeições como seres aparentemente oniscientes e onipotentes. Explorando as limitações deste grupo de personagens, os roteiristas desenvolvem uma trama envolvente que jamais perde o ritmo, e cativam o espectador com a determinação de David Norris (Damon), que enfrentando o destino para ficar junto de sua amada (uma premissa que pelo enunciado soa demasiadamente batida, mas que aqui funciona pelas circunstâncias em que é encaixada), se envolve com questões pertinentes à vida de um modo geral. Obstinado, Norris acaba por inspirar o Presidente (uma óbvia metáfora de Deus) a mudar os planos previamente traçados para ele e Elise (Blunt); e entregando esta revelação em seu pálido final, que resolve toda a trama de uma forma indigna e deselegante, “The Adjustment Bureau” não chega a decepcionar por completo, apenas conclui-se com uma aceitável ideia ao negar toda sua ardilosa construção. Fazer-nos pensar que um casal como David e Elise seria uma das maiores exceções da humanidade ao conseguirem traçar caminhos diferentes do planejado foi uma imposição muito forçada para engolirmos. Entretanto, a moral de “The Adjustment Bureau” nos concede margens para maiores reflexões, mas diz principalmente que “pessoas que encaram o livre-arbítrio como um dom, nunca saberá usá-lo até lutar por ele”, o que entra em conflito com a racionalização conduzida pelos agentes do destino buscando o bem estar do homem, colocando que o bem estar pode vir também do impulso - vulgo “coração”.
caetanobcb's rating:


“Green Lantern: Emerald Knights” é uma animação que serve bem ao seu propósito, que é o de expandir o universo dos Lanternas Verdes e explorar suas mitologias ao nos introduzir algumas das mais interessantes figuras que compõem a tropa protetora do universo - deixando, para isso, até mesmo Hal Jordan, o Lanterna Verde humano, em segundo plano. Exibindo uma relativa continuidade em relação ao longa antecedente (embora se sustente por si mesmo, sem a necessidade do outro filme), o terrível “Green Lantern: First Flight”, este segundo volume adota uma estrutura eficiente e própria para discorrer sua narrativa, dividindo sua trama em pequenos contos que são invocados pela lembrança dos personagens da linha do tempo presente, onde a novata guerreira Arisia enfrenta pela primeira vez uma grande ameaça interestelar, e por causa disso passa a ouvir histórias marcantes de Hal Jordan e Sinestro sobre grandes batalhas e acontecimentos passados envolvendo os bravos guerreiros verdes. Embora o filme estabeleça, ao seu final, uma espécie de unificação temática de suas pequenas histórias com a história “principal”, ou seja, a presente, “Emerald Knights” ainda deixa a desejar ao executar a tarefa, já que seu ato final soa corrido pela falta de desenvolvimento da trama base, que é visitada de forma intermitente, sempre com a finalidade principal de introduzir a próxima história a ser apresentada. Além do mais, “Emerald Knights” - assim como quase todos os filmes que dividem suas narrativas em diferentes contos - acaba prejudicando-se com a própria estrutura, já que nem todas as mini-histórias se sustentam o suficiente em tela, além de que, naturalmente, algumas serão sempre mais interessantes do que as outras. O problema é que a diferença de qualidade não é pequena: enquanto o longa lança mão de histórias divertidas e curiosas não só pela premissa, surpresa e originalidade delas como também pelo humor, como a do planeta vivo - e também Lanterna Verde - Mogo, também nos faz encarar uma que parece apenas burocratizar o processo de se chegar até a próxima: o conto da guerreira Laira, que se resume a uma historinha clichê de pai e filha que não traz absolutamente nenhum conteúdo narrativo além das abusivas sequências de luta. Por outro lado, as histórias do primeiro grande Lanterna Avra, do treinador Deegan e de Abin Sur, o amigo de Sinestro, trazem temas interessantes e tendem para o positivo, embora não sejam inteiramente satisfatórias. E ainda que o roteiro de “Green Lantern: Emerald Knights” não conte com diálogos brilhantes ou tão inspirados (o que impede algumas histórias de irem além de seus potenciais), o visual do filme pelo menos se revela competente e eficaz, acrescentando para um longa que, devo dizer, mais uma vez, serve bem ao seu propósito, mas que é facilmente esquecível por sua característica narrativa, que pouco deve ao espectador no final, já que cumpre tudo que propõe com considerável competência, porém ainda deixa a desejar por não ousar estabelecer uma funcionalidade unitária melhor trabalhada para todas suas pequenas histórias e sua trama principal, servindo mesmo, afinal, para simplesmente estender nossos conhecimentos sobre a mitologia dos Lanternas Verdes.
caetanobcb's rating:


Cedar Rapids (2011)
Carregado por um protagonista interessante e bons personagens secundários, “Cedar Rapids” é uma dramédia que, apesar de simpática, não arranca muitos risos com seu humor e tampouco lágrimas e lamentações com sua trama simplória e esquemática que peca por não imergir por completo o espectador em seu drama. Pelo menos, porém, este filme consegue desenvolver com competência seu conteúdo narrativo ao servir totalmente o seu protagonista e a reconfiguração de seu caráter. Ed Helms vive um vendedor de seguros interiorano, chamado Tim Lippe, e a boa atuação concedida pelo ator emprega ao personagem uma ponderação devida de suas nuances, que vão desde uma figura infantil quando em desespero, passando por um homem alinhado aos preceitos morais e bons costumes que conservou durante sua vida, até um cara empolgado com as novas diversões que experimenta durante sua viagem - e conforme o caráter do personagem é manipulado, Helms demonstra cada vez mais controle sobre suas mudanças durante as cenas. Mas não é preciso muito tempo para se perceber que não é apenas Ed Helms dono dos méritos por seu bom personagem, mas também o roteiro, que se dedica a mostrar com sutileza os valores cultivados pelo personagem, o significado que a pequena jornada que faz durante filme - bem como sua profissão - tem para ele, e sua insegurança diante de algumas situações que provavelmente não aborreceriam outras figuras. Bem como, o roteiro é astuto ao desenvolver o personagem com a ajuda de outros, secundários. Aqui destaca-se, obviamente, o sempre agradável John C. Reilly, que encarna um vendedor de seguros obsceno e despojado, sempre divertindo os personagens e o espectador com seu jeito incômodo de agir e com as provocações que fala, sendo indubitavelmente o “alívio cômico” mais evidente e proveitoso do filme. Da mesma forma, Anne Heche surge como um interesse amoroso suavemente distinta de personagens do tipo, também bastante simpática na maneira que lida com o diferente Tim; e pra completar, Isiah Whitlock Jr. é outra boa - ainda que menor - presença, interpretando um homem bem mais polido e seguro que os outros, protagonizando uma ótima cena em determinado instante da trama e servindo como equilíbrio para este divertido grupo de amigos. Embora tenha um elenco interessante (que ainda conta com outras caras agradáveis), “Cedar Rapids”, como disse, funciona completamente em prol de seu protagonista, e dessa forma acompanhamos a reconfiguração do caráter de Tim, que na trama experimenta todo os tipos de situações que poderiam ser antevistas durante a narrativa; todas elas com o princípio de remodelar sua pessoa. Assim, Tim trai sua “pré-noiva” (uma participação de Sigourney Weaver que se não tem muito a dizer no filme, pelo menos confere peso a esta pequena mas importante personagem para o protagonista), contrariando seus valores morais; desaponta os homens que deveria impressionar; experimenta drogas; se envolve em brigas e se suja quando suborna o presidente da filial para conseguir o prêmio que tanto queria para sua companhia de seguros. Durante a trama, os momentos de catarse e purificação não deixam de marcar presença, e a decaída do personagem é esperada, bem como seus próximos passos até atingir a resolução de seus problemas. É, basicamente, uma trama esquemática apoiada em uma história que em si já não é muito fortificada, e por isso “Cedar Rapids”, se desconsiderarmos outros de seus elementos, acabe soando um pouco oco e insípido - já que tampouco desponta como um drama tocante ou uma comédia eficaz, o que é uma pena. Mas são estes outros elementos que conferem as qualidades diferenciais para este filme. A direção e a trilha sonora desempenham um bom trabalho ao imprimir ritmo às cenas, e especialmente os divertidos personagens secundários e o ótimo e bem construído protagonista (assim como todas as ótimas atuações) salvam este filme de ser algo completamente sem gosto e ordinário, mesmo que ele ainda soe um pouco dessa maneira.
caetanobcb's rating:


Source Code (2011)
Este é mais um conto de predestinação. E é mais um que une essa supersticiosa noção com uma trama fundamentada na ficção-científica, tornando o desafio de explicar tal processo esotérico ainda mais criativo e complexo. E “Source Code” se sai consideravelmente bem na tarefa de reinvestir em um tema já, de certa forma, gasto e criar uma narrativa envolvente e mitologicamente intrigante. Se apreciarmos toda a complexidade de sua interessante e bem desenvolvida premissa, “Source Code” nos passa a impressão de ser um filme de elaboração complica, embora flua de forma simples e sucinta, o que é mérito de um roteiro consciente e bem engendrado. A mitologia do longa se concentra em um peculiar programa chamado Código Fonte, e nos introduz a um protagonista típico, mas que aos poucos desabrocha suas qualidades ao passo que conhecemos sua história e seu agridoce envolvimento com a missão que exerce através do Código Fonte. A estrutura narrativa do filme nos permite revisitar (assim como o protagonista) o instigante cenário do trem - onde uma iminente explosão tirará a vida de todos a bordo - de forma intermitente. Assim, há uma dosagem de informações interessante, quando, nas ocasiões em que o protagonista Colter Stevens se encontra em sua cápsula e fala diretamente com a central de controle, passamos a conhecer cada vez mais dos objetivos do personagem nessa missão e as funcionalidades de tal programa do qual ele faz parte. Quando acompanhamos Colter no trem, somos apresentados, na medida em que ele vai descobrindo, a possíveis alternativas e desfechos intrigantes para a sua missão - e o drama angustiante do personagem apenas reforça o apelo emocional de sua história, assumindo traços cada vez mais comoventes enquanto o protagonista se determina a vencer os limites daquele universo previamente programado e consertar as coisas não só para fins de sua missão na realidade, mas também para ele próprio (as últimas palavras que queria falar para o pai e a possibilidade de viver novamente) e para as pessoas do trem - com quem dividiu incontáveis “oito minutos” e eventualmente se tornou familiar -, especialmente Christina, com quem partilha uma afeição amorosa óbvia, mas que convincentemente ancora o personagem naquela hipótese de realidade e no vislumbre heróico de reparar tudo de forma perfeita. “Source Code” é sobretudo uma história otimista. Embora tenha lá seus momentos de angústia e aflição - e que se revelam eficazes -, o longa não dispensa o final feliz, ultra feliz. A trama concebida aqui brinca com aquela velha e atraente ilusão de poder modificar o passado e consequentemente desenhar um novo futuro (ou pelo menos uma outra e melhor realidade), desta vez apostando em uma tecnologia desconhecida cujas naturezas, embora, a princípio, não admitam tal impossível ideia, são estranhas e ambivalentes o suficiente para ainda alimentarem as possibilidades de concretizá-la. Dito isso, os caminhos narrativos relativamente previsíveis de “Source Code” (e que ficam ainda mais óbvios no último ato) não atrapalham um filme que só deixa mesmo a desejar pelo uso de uma trilha sonora convencional. De resto, o longa dirigido por Duncan Jones apresenta um competente resultado que resolve tudo com um desfecho fascinante por sua concordância de ideias (atrelando a noção de destino com as propriedades de sua ficção-científica) e ainda mais belo por sua formidável execução, mesmo que toda a conclusão seja um típico final feliz hollywoodiano - mas que é aqui feito sem nenhuma afronta ao bom senso ou inteligência do espectador, que acompanha com afinco, durante uma hora e meia, os esforços do protagonista e a instigante mitologia de sua jornada.
caetanobcb's rating:


“O futuro não tem bandeiras”, diz o vilão de “Captain America” em determinado momento do filme. “Não o meu”, retruca o próprio herói Capitão América em uma das diversas frases de efeito do longa - e se há duas coisas que esse breve diálogo nos diz é que: 1) o discurso patriótico aborrecedor dos norte-americanos não deixa de figurar na “filosofia” deste filme e 2) o roteiro é tão convencional (embora bem amarrado) que as frases de efeito estão presentes em massa, seja para fazer algum tipo de humor ou para estabelecer um amarre temático. De qualquer forma, em ambos os casos os diálogos de “Captain America” refletem em menor grau o caráter formuláico de seu roteiro. E se, talvez, uma das alternativas para sair da mesmice já vista em outros filmes de super-heróis fosse a de explorar a filosofia de sua história, que seja, pois “Captain America” poderia ser um filme muito mais proveitoso assim. Apesar das ideias e atitudes maquiavélicas, o vilão do longa, Johann Schmidt, tem por trás de sua megalomania uma noção de futuro interessante: e se o mundo não tivesse mais bandeiras? É claro que, na visão de Schmidt, ele seria o imperador do mundo, o detentor de todo o poder, e assim todos estariam à mercê de sua autoridade, algo que seria tão latente e revoltante do que meras demarcações territoriais e eventuais guerras mundiais. Mas como disse, a noção que o vilão tem por trás de seus delírios maquiavélicos é interessante, e a trama poderia muito bem explorar este aspecto, mas não o fez. Não o fez pois, como segue uma linha tradicional, ter um vilão repleto de canastrices - e que só não é pior pela boa atuação Hugo Weaving - e com objetivos ridículos e presunçosos que são facilmente explicados por sua “insanidade”, já é o bastante para um filme do Capitão América, onde a atenção é toda voltada para o personagem título. E também não se aprofundou nas aspirações de seu vilão pois isso, de alguma forma, desvirtuaria as aspirações que realmente pretendem preservar em um filme como esse: o bravo e inquestionável ufanismo, este presente de sobra no personagem de Steven Rogers. Mas devo ser justo e notar que, apesar de intocável, os valores patrióticos do filme são tecidos aqui quase que simples e unicamente como características de seu protagonista, que embora tampouco as questione - defendendo seus valores até o fim -, as possui por certa nobreza individual. Uma que se manifesta não necessariamente pela influência do patriotismo, mas pela avidez de ser algo de grande além daquele miúdo jovem que por toda a sua vida conservou o princípio moral de nunca fugir de uma luta, mesmo sendo fisicamente desfavorecido para combater qualquer uma. E eventualmente Steve Rogers não fugiu da maior delas, a guerra. Mesmo que sua relativa inteligência (muitas vezes manifestada durante o longa) tenha falhado na hora de racionalizar acerca de seus valores e fugir de uma guerra que merecia ser deixada de lado, é entendível que Rogers não é assim, e sua “bondade” o manteve leal e determinado para ser quem é até o fim do longa - e é por isso que, infelizmente, o engajamento do personagem em um relacionamento amoroso tenha sido a única saída para conferir ao herói algum tipo de dilema moral, já que ele nunca questionaria suas decisões primárias. Todavia, “Captain America”, apesar de seguir um padrão convencional, tem seus bons momentos. A hilária sequência que ilustra sua utilidade após a aplicação do soro, quando vira o protagonista-símbolo de diversas apresentações extravagantes e ufanistas ao redor dos EUA, não só é divertida como representa uma importante passagem para o personagem - e o mais próximo de um olhar cínico do desenfreado patriotismo americano dessa época. As cenas de ação são bem executadas - apesar de muitas não passarem de meras distrações -, com destaque para a sequência que ilustra a primeira experiência do Capitão em campo de batalha através de um eficiente uso da câmera lenta, potencializando a exuberância visualística das cenas. E embora o filme ainda tenha uma série de outros problemas - um deles o excesso de ridicularização sofrido pela versão miúda e frágil de Steve Rogers no início da narrativa, deixando-o caricato demais -, seu final produz um efeito dilacerante, dando ao personagem um momento eficaz de emoção, e combinando uma boa surpresa com uma amarga realização para Steve Rogers. Algo que pelo menos prepara emocionalmente e geograficamente o terreno para a chegada do Capitão América ao time dos Vingadores.
caetanobcb's rating:


Sucker Punch (2011)
Logo que começa, “Sucker Punch” já dá sinais de sua problemática estrutura quando somos imediatamente apresentados a uma cena em forma de videoclipe que de maneira objetiva e visualmente interessante, nos introduz a protagonista e basicamente o que o filme será sobre. Ou seja: nada de errado até aqui... Mas não demora muito para outra sequência musical (mais uma com cara de videoclipe) surgir em tela - e nesse estilo e estrutura o filme prossegue até certo ponto. Não que a inserção de clipes musicais no meio do filme seja necessariamente ruim. É compreensível o que Zack Snyder quer criar aqui: um deleite sonoro e visual que pouco se atém às formalidades de um musical ou qualquer outro gênero que admita sequências do tipo com mais liberdade. E Zack Snyder nunca deixa a desejar nessa sua proposta, já que “Sucker Punch” dispõe de uma pluralidade visual impressionante e uma trilha sonora eclética que através de uma montagem que claramente preza pelas noções de composição de clipes musicais, acerta em cheio nas tais cenas envolvendo músicas, além de ser um dos pontos fortes das sequências de ação (muitas das quais também incluem músicas como elemento evidente). Porém, embora conceba um apurado e espetaculoso visual, Snyder parece não se importar em imprimir conteúdo e razões narrativas em seus fetiches visuais - porque é isso que “Sucker Punch” essencialmente é: um exercício visual fetichista, puro e oco. Por volta dos vinte e poucos minutos de projeção, o filme estabelece uma estrutura narrativa alicerce que se estende até o seu final; um pretexto horrendo e sem sentido para inserir devaneios visuais na trama de forma pesada. Assim, a cada etapa do plano das dançarinas para fugiram daquele hospício (um plano tão banal que afronta todos os mestres da fuga da história do cinema), a personagem Baby Doll deve executar uma dança enigmática que sequestra a atenção de todos, e como representações simbólicas e metafóricas dessas danças, verdadeiras viagens alucinadoras são evocadas na tela; viagens onde as belas jovens, empunhando os mais diferentes tipos de armas, lutam contra criaturas mitológicas e/ou tecnológicas das mais bizarras possíveis, como se estivessem dentro de um videogame (aliás, uma dessas fantasias em particular remete totalmente a jogos de videogame). Aqui, Zack Snyder executa com extraordinário manejo as eletrizantes cenas de ação, investindo em movimentos de câmera inquietos que imprimem realismo à ação ao mesmo tempo em que os efeitos visuais e a fotografia pintam belos contrastes de realidade entre elementos de cena orgânicos e inorgânicos, além dos planos abertos do diretor que ostentam toda a magnitude dos universos que cria. E também há de se destacar a montagem, que é hábil ao distinguir a extravagância de imagens e conduzir o ritmo frenético delas - sempre deixando claro para o espectador o que acontece em meio aos excessivos caos. Enquanto isso, do lado de fora da mente de Baby Doll, a criação de intrigas baratas e as representações forçadas das personagens são meios que o roteiro encontra para rapidamente levá-las até o próximo passo do plano (leia-se: a próxima alucinação visual a ser acompanhada). E como já disse anteriormente, as sequências fantasiosas carecem de objetivo narrativo e conteúdo. É certo que há uma lógica simbólica aqui exercida por essas sequências, mas a correspondência delas ao que acontece na “realidade” é tão mínima que fica impossível nos importarmos de verdade com a vida de cada uma das personagens durante os segmentos em questão. E “Sucker Punch” ainda guarda uma revelação surpresa (embora insinuada em alguns momentos) para o seu final. Uma cuja existência só faz mesmo sentido do ponto de vista moral - e pensar que Snyder deu-se o trabalho de formular uma revelação tão confusa e furada só pra deixar uma moralzinha simplória e ordinária ao seu final, é absolutamente broxante, e só afunda mais este filme que tenta se garantir por seu espetáculo visual e por sua história enganosamente significativa e engenhosa, que é, na verdade, só boba, inócua e vazia.
caetanobcb's rating:


Scream 4 (2011)
Agora vamos à refilmagem. “Scream 4” é, surpreendentemente, o capítulo da franquia “Scream” que melhor se apropria de seu mote auto-referencial para estabelecer uma interessante abordagem à trama sem soar auto-indulgente... demais. Pois ainda assim o longa cai na armadilha que impediu-me de aproveitar os filmes anteriores da série. Sim, é patente que os clichês e a previsibilidade da trama fazem parte de toda a brincadeira, e embora as zombarias metalinguísticas deste novo longa se concentrem no conceito de refilmagens e como estas subvertem toda a noção dos filmes originais, ainda é uma tortura enorme ter de aturar o mesmo formato sendo repetido de forma burocrática e redundante. É desinteressante, por exemplo, acompanhar um personagem secundário (e propositalmente desprovido de carisma) enfrentar toda a historinha de perseguição com o Ghostface até ser, eventualmente, morto da forma mais sangrenta ou “chocante” possível. Mesmo introduzindo a ideia do inesperado, da reinvenção, “Scream 4” não ousa reinventar-se nas suas cenas mais básicas - e, consequentemente, mais problemáticas. Mas o filme ainda guarda alguns elementos interessantes: a ideia da refilmagem, por exemplo, exerce sob a narrativa do filme uma relevância muito maior e mais lógica (apesar de algumas coisas estúpidas, como o fato absurdo do assassino estar gravando um filme) do que as ideias de “continuações” e “fim de trilogias” exerceram sob o segundo e terceiro filme, respectivamente. E é por meio desta auto-referência principal que o filme emula de forma divertida algumas passagens do primeiro “Screm”, como as cenas da festa, em que todos assistem a um filme de terror; a do namorado preso a uma cadeira numa varanda; além, claro, do final, uma cópia um pouquinho melhor da cena do primeiro filme - com exceção, é claro, dos estúpidos motivos que levaram os assassinos a cometerem os homicídios, bem como suas ridículas pretensões por trás de todos os crimes. Entretanto, quando se fala em absurdo, estupidez e ridiculez no contexto da série “Screm” (e este último não escapa à regra), tais adjetivos não tendem a ser necessariamente negativos, já que tudo parece fazer parte do pacote, ou brincadeira, ou jogo (ou sei lá) executado pelos realizadores - resumindo, tudo não passa de uma aventura descompromissada e a ordem é mesmo ser estúpido, absurdo e ridículo. Mas ainda que seja passável sua tentativa de “melhorar”, é difícil encarar este quarto filme da franquia e a essa altura perdoar, por exemplo, as motivações que dão ao assassino da vez, às diversas mortes anunciadas em voz alta e com exclamação, às convenções narrativas e ao formato redundante. É justo dizer que, em relação aos três outros filmes, “Scream 4” realmente melhora - mas isso é apenas por comparação, porque o filme, por si só, ainda é um passatempo bobo e aborrecido. É agradável como o filme se prontifica a atualizar as referências populares com o intuito de situar a trama nos tempos atuais (apesar de fazer isso com certo excesso na tentativa de também se desculpar por seus clichês); é agradável como cria impasses e conflitos entre seus personagens mais antigos (algo praticamente inexistente no terceiro filme); como concebe cenas de mortes mais arrojadas (embora as faça apenas para adornar a redundância que possuem); ou como propõe ousar em seu final, utilizando a premissa das refilmagens como base; mas no fim, “Scream 4” acaba se voltando para os mesmos problemas que a série apresentou nos três filmes precedentes. Na sequência final, quando os três personagens principais da série (os três únicos que sobreviveram aos severos ataques do Ghostface) se encontram em uma situação de tensão na companhia de um quarto elemento - a única personagem nova do grupo, e mais odiada -, é fácil de imaginar quem vai sair vivo e quem não vai. E depois de alguns blefes costumeiros, tudo acaba da exata maneira como a pouco visualizamos. Dessa forma, fica muito difícil apreciar “Screm 4”, ou 3, ou 2, ou 1... Ou qualquer um até que façam uma refilmagem verdadeiramente subversiva, ousada e que não tente defender suas indolências simplesmente por reconhecê-las.
caetanobcb's rating:


The Beaver (2011)
Não é fácil ignorar seu passado. Por mais que um recomeço soe tentador e ideal, jamais se revelará como uma tarefa simples, sendo que o passado jamais deixará de marcar presença em seu dia-a-dia; fato que implica diretamente no seu modo de ser, já que toda a construção de sua personalidade se deve pelos fatos e influências que ocorreram com você e ao seu redor durante os anos que viveu. Em “The Beaver”, Walter Black, um pai de família e bem sucedido executivo, padece de uma depressão profunda, chegando a tentar o suicídio porém sendo inesperadamente salvo por si mesmo - ou pelo boneco castor que de repente passa a utilizar como uma espécie alterego. Na tentativa de distanciar-se psicologicamente das pessoas e de suas ações, o novo Walter usa o castor como meio de comunicação, estabelecendo ao boneco uma personalidade absolutamente mais desinibida e bem humorada do que a do antigo Walter, que vivia constantemente sob um estado de melancolia e indiferença para com tudo e todos. Durante essa nova atitude comportamental, Walter Black é frequentemente confrontado por sua mulher sobre o homem que deixou de ser para se tornar uma figura estranha que anda com um fantoche na mão o tempo todo. Sua mulher, Meredith, também o lembra de seu passado - que ele diz ainda recordar, mas que evidentemente ignora. “The Beaver” não é um filme ruim, mas é um filme que deixa primeiras impressões bacanas para desenvolvê-las sem muita profundidade ou ousadia. Primeiramente, a figura de Walter Black é fascinante, sendo conduzida por Mel Gibson com excelência, tanto na representação que faz de um homem ansioso, na miséria emocional e sem vontade de viver como na engraçada personificação do fantoche castor, que possui uma personalidade de nítida simpatia. O longa, dirigido por Jodie Foster, estabelece um interessante tom em sua narrativa, fazendo uso de uma trilha sonora levemente bem-humorada e especialmente melancólica, representando perfeitamente o contraste entre o deprimente e o engraçado que habita a figura de Walter e seu fantoche. A trama também concede uma considerável porção de atenção para Porter, o filho de Walter que o odeia. Porter, ao mesmo tempo em que não se relaciona bem com seu pai (especialmente depois deste adotar o fantoche castor), também divide muitas características com ele, e por isso se martiriza para se livrar delas. Tentando estabelecer um paralelo principal entre pai e filho, o roteiro infelizmente deixa Meredith (também Jodie Foster) meio reclusa durante a narrativa, retratando-a como uma esposa comum que nunca tem a oportunidade de demonstrar suas particularidades da forma como seu marido e seu filho têm. E é também uma pena que a sub-trama envolvendo Porter seja desenvolvida de forma cada vez mais periférica durante a narrativa, resultando em uma resolução fácil e artificial que ainda investe em um dispensável romance entre o jovem e uma garota de sua escola, tudo para suscitar a reconciliação entre o garoto e seu pai. Embora interessantes e curiosamente expostas no início, as reflexões propostas por “The Beaver” acabam tomando a forma simplista da “moral ao final da história” quando o filme atinge seus minutos finais - e a última passagem do longa apenas mostra a ideia de um típico final feliz sendo executada da forma mais automática e manjada possível, assim como praticamente todo seu decepcionante e insosso terceiro ato. “The Beaver” certamente dá indícios de que poderia ser um filme melhor: provavelmente um estudo de personagem mais profundo e atencioso como praticamente é em seu início; ou então um filme cujo foco é no protagonista mas que também compreenda seus outros personagens com diligência. Mas tudo isso, claro, tendo em mente que o elemento mais interessante de sua história é o personagem Walter Black, o homem que passou a se comunicar através de um fantoche castor para passar por cima de seu passado e da pessoa que um dia foi. No fim, Walter Black cai facilmente no esquecimento, sendo retratado apenas como um simples personagem problemático hollywoodiano que consegue sua realização perfeita e ideal. Que bom para ele, pelo menos.
caetanobcb's rating:


X-Men: First Class (2011)
Olhando em retrospecto, e principalmente depois de conferir este novo filme da saga “X-Men”, a aventura dos mutantes no cinema é composta em sua essência por uma questão pessoal do personagem Magneto. Claro, não há como não reconhecer a importância que outros personagens, tais como Wolverine, Jean Grey, Charles Xavier e Vampira, têm para o universo X nos cinemas, principalmente se considerarmos a trilogia inicial. No entanto, o investimento profundo, ainda que moderado, no drama pessoal de Erik nos três primeiros filmes veio a calhar perfeitamente com o peso recebido pelo personagem em “X-Men: First Class”. Se ajustando a um contexto histórico que não só revela-se elegante em termos de retratação, como também em termos narrativos, ao fazer uso do cenário da Guerra Fria para criar uma narrativa complexa e significativa, “X-Men: First Class” não deixa, porém, de atuar como um “preenche lacunas”. Embora negligencie um grande detalhe do terceiro filme e com isso crie o único furo na história que posso identificar, o longa se sai incrivelmente bem na função de ligar os pontos e encaixar seus eventos com aqueles futuros que vimos nos filmes anteriores. E ao se encarregar de preencher lacunas, o filme inevitavelmente explora mais os personagens que anteriormente conhecíamos, o que nos dá a admirável oportunidade de conhecer mais sobre Mística, uma personagem que tem suas dimensões acrescidas por este filme, nos ajudando a compreender sua futura personalidade fria e principalmente testemunharmos que na época ela era a que mais sofria com sua diferença genética. Aliás, o fato de “X-Men: First Class” explorar o surgimento do preconceito sofrido pelos mutantes, ao passo que eles tornam-se cada vez mais notáveis, não só é importante para a história como um todo, sendo este fenômeno a grande causa de discórdia entre homo sapiens e mutantes, como também magnificamente representado por alguns pontos em particular. Um deles, a relação entre Fera e Mística, surge como elemento novo na história, e também retrata de forma sensível a manifestação do discurso do orgulho mutante, que embora essencialmente possua a mesma e simples filosofia, ganha traços diferentes dentro das ideologias opostas de Xavier e Magneto. Por falar em Xavier, é interessante como este é pintado como um jovem entusiasmado e ávido por tudo o que se relacione com mutações - conjunto de características que se contrasta de forma orgânica com o cauteloso e sereno Xavier dos anos seguintes. Por outro lado, a imensa extensão das habilidades do personagem se torna um verdadeiro incômodo em alguns momentos, tendo sua quase ilimitada capacidade telepática uma função de demasiada conveniência na trama, parecendo facilitar tudo para as ações dos X-Men e para as necessidades do roteiro. Outro que chega a causar incômodo é o vilão interpretado por Kevin Bacon, Sebastian Shaw, cujos propósitos são exatamente os mesmos de Magneto, com a diferença de que o personagem de Shaw não é explorado de forma devida e tampouco parece reter motivos emocionais que justifiquem seu objetivo. Mas apesar disso, Shaw ainda é um bom alvo para Magneto, que neste filme tem sua personalidade trabalhada através de sua busca por vingança contra o homem que matou sua mãe e o transformou em quem ele é e também pela forte relação que estabelece com Charles Xavier. Relação que, aliás, se desmancha em uma sequência fantástica a vinte minutos do fim, onde não só a ironia de os mutantes deterem uma terceira guerra mundial e legitimarem uma guerra contra eles próprios os atinge, como também a fissura entre dois dos mais orgulhosos representantes da comunidade mutante - fato que viria a gerar implicações individuais para ambos os ex-amigos e também gerais para toda a causa dos mutantes. Se beneficiando de efeitos visuais caóticos e deslumbrantes, o diretor Matthew Vaughn exibe uma fascinante condução criativa de suas cenas, concebendo desde sequências de ação eletrizantes até planos e sequências marcantes pela sensação que despertam (algo também auxiliado pela inventiva montagem do filme), seja numa série de cenas mais divertidas e irreverentes como as que mostram Xavier e Erik recrutando novos mutantes (com direito a uma ponta hilária de Wolverine), seja pela arrepiante cena da moeda, que estabelece um paralelo visual (e simbólico) entre a morte de Shaw e a traição que Erik executa em Xavier. O certo é que, apesar de apresentar problemas aqui e ali, “X-Men: First Class” é um filme que faz jus aos três longas que o sucedeu, não só se mantendo fiel aos eventos deles, como respeitando seus personagens e os elevando a níveis ainda mais altos.
caetanobcb's rating:


Win Win (2011)
Possuidor de interessantes qualidades, “Win Win” é o tipo de filme que vez ou outra durante o curso de sua narrativa nos faz perguntar o que, afinal, sua história quer atingir. Dono de um enredo de notável simplicidade e de personagens idem, o filme se compromete com um retrato autêntico tanto em termos de personagens quanto de tom narrativo - que revela-se simultaneamente sério e leve, o que possibilita a inclusão de cenas e personagens mais bem-humoradas sem abandonar a naturalidade de sua trama. E embora tenha seus pontos fracos, “Win Win” ainda deixa uma impressão positiva em seu final, que talvez nos dê mais indicações do que, afinal, a história do filme quer atingir - e reconhecendo o que a história quer atingir, digo que sim, ela de fato atingiu. “Win Win”, como o título já denuncia, é sobre vencer na vida. Longe de vangloriar sua temática e eleva-la a níveis hollywoodianos de filmes de superação e vitória, “Win Win” foca-se em um protagonista comum, aquele tipo de homem que pode muito bem ser seu vizinho, seu parente um pouco distante, ou qualquer sujeito de classe média com filhos e um emprego. Mas na verdade, o protagonista Mike, interpretado pelo sempre agradável Paul Giamatti, tem dois empregos, trabalhando como advogado em sua firma ao mesmo tempo em que exerce o cargo de treinador de um time colegial de wrestling. Metáfora óbvia, é verdade, mas que tampouco é manifestada no roteiro a fim de estabelecer paralelos estridentes entre o valor da vitória dentro das linhas de combate do esporte e o valor dela na vida real, embora seja isso mesmo que o filme tente sugerir no final. Porém, eu diria que “Win Win” é também sobre transparência. Estressado por pequenas insatisfações nos seus dois trabalhos e eventualmente uma situação financeira desfavorável, Mike se arrisca ao assumir a tutela de um cliente idoso e com início de demência apenas para receber o pagamento para tal responsabilidade. E é aí que Kyle entra na vida de Mike. Neto de Leo, o cliente de Mike, Kyle coincidentemente é um excelente lutador, e não demora muito para se oferecer a entrar no time de Mike e matricular-se no colégio, além de também passar a morar temporariamente na casa do advogado. Kyle modifica a rotina de Mike, tanto em casa quanto em sua atividade como treinador, e dessa forma o estresse do protagonista é superado, desaparece de vez. Mas como disse, “Win Win” é um filme sobre transparência, e ao guardar para si os reais motivos por ter assumido a tutela de Leo, Mike acaba sofrendo com as consequências de sua intransparência quando a mãe displicente de Kyle aparece para tomar de volta seu pai e seu filho. Além de Mike, o mais interessante personagem de “Win Win” é o garoto Kyle, composto por seu interprete de forma apática e sossegada, concebendo um típico jovem de dezesseis anos em relação aos seus trejeitos e atributos estéticos, mas consideravelmente diferente por uma personalidade que consegue transmitir carisma apesar de seu comportamento introvertido. Também contando com bons personagens secundários, entre eles a esposa de Mike, interpretada pela ótima Amy Ryan, e os divertidos colegas de treino do advogado, encarnados por Jeffrey Tambor e Bobby Cannavale - este último, especialmente, um eficaz alívio cômico -, “Win Win” ainda peca em alguns fatores. Por exemplo, as ligeiras reviravoltas do filme soam um pouco convencionais, e até mesmo as reações do até então muito bem construído Kyle não deixam de parecer previsíveis e clichês quando, no ato final, ele descobre as supostas segundas intenções de Mike por trás da tutela de seu avô - e quando o jovem compara seu treinador com sua mãe, dizendo que são todos iguais, seu comportamento chega a lembrar muito o de outros jovens adolescentes que vemos em filmes e que explodem ao se verem envolvidos por mentiras e/ou traições. E inclusive o relacionamento quebrado entre Kyle e sua mãe é retratado de forma convencional, embora seja compreensível o desgosto do garoto pela mulher que falhou em criá-lo - o que em dado momento da narrativa faz com que a simples presença de sua mãe em uma decisiva luta provoque um mau desempenho do garoto; uma crise que, particularmente, surge de forma muito óbvia, senão boba. Mas no final, as consequências que o protagonista Mike encara o compele a mudar e sair-se vitorioso na vida - assim como toda a sua família e seu novo membro Kyle -, mesmo que a vitória não seja banhada de glória, e apenas seja alcançada ao fazer a coisa certa, sem esconder nada - e assim, com toda a simplicidade, leveza e autenticidade possível, “Win Win” atinge, afinal, algo com sua história.
caetanobcb's rating:


Attack the Block (2011)
“Attack the Block” é o tipo de conto que busca heroicizar um personagem marginalizado e moralmente corrompido através de uma situação que o desafia e muda de forma absoluta seu estilo consolidado de vida, proporcionando a ele uma redenção e transforma-o exatamente no oposto do que era antes. Este personagem aqui é Moses, o líder de um grupo de jovens criminosos que defendem um bloco de classe baixa na cidade de Londres. Moses é o típico jovem marginal que nunca tomou a iniciativa de pensar nas coisas que faz, apenas fazendo-as ao assumir uma espécie conformismo com a vida que lhe cerca e cerca seus amigos. Tudo muda, então, quando há uma invasão alienígena no bloco onde vivem, impondo uma situação de urgência que acomete o grupo de Moses e os encurrala por também desencadear uma série de outros percalços, como a ameaça do líder mor do bloco, que passa a perseguir Moses por suspeitar de uma traição, e, claro, a polícia, que coloca-se no caminho dos delinquentes depois que uma moça roubada por eles denuncia o delito. Além do óbvio subtexto da redenção, “Attack the Block” é especialmente divertido e igualmente sensível por também evocar outras qualidades humanas em meio aos seus personagens, principalmente qualidades que dizem respeito ao envolvimento de pessoas diferentes por buscarem um objetivo em comum - que aqui seria basicamente o de sobreviver. Não apenas os membros da gangue do bloco têm de se unir com a moça que horas atrás tinham assaltado (e vice-versa, o que torna, por parte dela, a união bem mais hesitante), como também assumem a responsabilidade de sobreviver não ao se esconderem ou fugirem do perigo, mas ao enfrentá-lo. Assim, o filme emprega aquela sensação de adrenalina manifestada pela urgência de ter de combater um inimigo misterioso e que se difere totalmente das condutas e riscos da vida criminosa que assola o bloco. Em determinado momento da trama, inclusive, um personagem observa que está morrendo de medo daquela situação sinistra, mas que está achando aquilo “irado” - coisa que nos diz muito sobre o impulso de enfrentar uma ameaça com todas as forças apenas por ser uma ameaça. Os personagens de “Attack the Block”, principalmente os membros da gangue e a jovem enfermeira Sam, são todos divertidos; tendo cada um deles uma personalidade saliente o bastante para nos envolvermos e nos importarmos com cada passo que executam - o que é mérito do roteiro, que é hábil ao criar personagens interessantes mesmo sob a margem dos estereótipos, apresentando de forma ágil e sutil as suas particularidades e a maneira como agem. Dessa forma, fica até difícil não torcer pela redenção de Moses, pela sobrevivência de cada um dos membros da gangue, pela extinção dos perigos, e pela inusitada amizade que Sam estabelece com os marginais que a roubara anteriormente. E com exceção da sobrevivência de todos os membros da gangue, que acaba não se sucedendo, tudo isso acontece: os alienígenas são dizimados, o cara mal acaba morrendo da pior forma possível e Moses alcança a redenção depois de perceber que foi ele quem atraiu o problema e era ele quem deveria se sacrificar e acabar definitivamente com todo aquele caos - o que ele faz, sendo intensamente ovacionado pelos moradores do bloco. E ao mesmo tempo em que o desfecho de “Attack the Block” cai na mesmice, ele não deixa de soar como uma releitura mais pé no chão e despretensiosa de filmes de ação com temáticas similares, assim como todo o restante do longa - já que, ao evocar todas as sensações predominantes de filmes do tipo, “Attack the Block” o faz de uma maneira astuciosamente cômica e gore, assumindo descompromisso, e o faz também com um trabalho de produção, direção e montagem que procura encontrar o realismo em meio a tantas situações irreais, sem que assim deixe de provocar empolgação e tensão em quem assiste; algo que, somado com a qualidade de “conto de redenção” que o filme eficientemente constrói em torno de seu protagonista, acaba formando um exemplar de gênero quase impecável e altamente divertido.
caetanobcb's rating:


“Bridesmaids” tem uma ideia simples mas interessante. É, basicamente, uma versão povoada por mulheres daquelas “comédias de constrangimento” comumente associadas a homens. E apenas isso já permite aos roteiristas sacarem agradáveis surpresas para a criação de gags e situações cômicas que carreguem os traços femininos como parte essencial de seu humor. Mas “Bridesmaids” não seria tão engraçado se simplesmente seguisse o caminho da inversão de gênero, já que o que as “comédias masculinas” (uma distinção estúpida, é verdade) de qualidade têm como mérito não é o fato de voltarem suas tramas para personagens homens, e sim por conterem, simplesmente, piadas boas e um humor que é desenvolvido de forma astuta e/ou inteligente. E felizmente este filme do diretor Paul Feig investe em um estilo de humor que beneficia perfeitamente seus personagens e as situações de seu roteiro. Com uma imensa determinação para criar acontecimentos embaraçosos, o roteiro de “Bridesmaids” atinge o coração do embaraço ao criar diálogos que intensificam cada vez mais o constrangimento brotado pelas cenas, estendendo-as ao máximo, quase ao ponto de se tornarem redundantes. Dessa forma, as habituais cenas de sexo, votos de casamento, e inconvenientes dentro de um avião, são apresentadas como longas sequências em que uma série de gags e embaraços se sucedem incansavelmente, ajudando não só a ratificar o humor como também a construção e relação entre os personagens. Em alguns casos, é admirável como “Bridesmaids” vai até o seu limite para provocar o embaraço e a vergonha alheia, apostando até mesmo em sequências de humor altamente escatológico, algo que ao invés de surgir como piada forçada e rasteira, revela-se interessante especialmente por não poupar a fineza feminina de suas personagens e nos oferecer cenas que praticamente só vemos acontecer com homens em outros filmes. Mas além de todos os méritos cômicos, a comédia também se sobressai por sua protagonista Annie, que, interpretada pela ótima Kristen Wig, em uma atuação irrepreensível, é o verdadeiro fracasso em pessoa, tanto no campo amoroso quanto no campo profissional. Retratada como uma pessoa vivendo aquém de seu potencial em vários aspectos, o roteiro confere a Annie um fundo dramático convincente o bastante para não soar clichê nem piegas, e pinta a amizade da protagonista e da prestes a se casar Lillian (representada com naturalidade pela também ótima Maya Rudolph) como uma relação sólida e importante para ambas, o que se revela decisivo para o desencadeamento de todas as intrigas e empecilhos da trama. Todavia, “Bridesmaids” também possui sua parcelas de erros. Embora tenha personagens secundários ocasionalmente engraçados, é difícil não notar o abismo que os separa - especialmente o time de madrinhas de casamento - da protagonista no que diz respeito ao desenvolvimento e ao humor. Conceitualmente, os estereótipos representados por cada uma delas é interessante, mas na prática são apenas isso; e com exceção da personagem porcalhona de Melissa McCarthy, que apesar de também ter seus altos e baixos, se salva por representar o tipo designado a ela com mais afinco; nenhuma das outras personagens ganham oportunidade de crescerem em tela, ficando o roteiro cada vez mais restrito ao trio de amigas (Wig, Rudolph e Rose Byrne) e ao policial interpretado pelo carismático Chris O'Dowd. O que nos leva ao terceiro ato totalmente frágil e corrido do filme, que procura resolver todos os problemas entre os personagens da forma mais simpática e sumária possível, comprometendo assim seu humor e exagerando na dose de pieguice e clichê - como se os roteiristas tivessem sido subitamente atacados por um bloqueio criativo e decidissem que uma resolução mais convincente e menos comum não fosse necessária, uma vez que já garantiriam algumas risadas com o restante da narrativa. Mas apesar do fraco desfecho e de alguns errinhos aqui e ali, “Bridesmaids” ainda vive na memória como uma surpresa positiva, seja por ser um competente exemplar do humor de constrangimento ou por ser uma comédia inovadora por simplesmente apostar em um conjunto de personagens femininas em uma série de situações onde a maioria só enxergaria homens.
caetanobcb's rating:


A vida passa, e cada um que passa por ela é defrontado por dois mistérios extremos: o nascer e o morrer. Dizer que em determinado ponto nascemos e em outro morremos é uma certeza garantida pela experiência humana, que tem percepção o bastante para definir o surgimento e o desaparecimento da vida em um organismo. Mas estaria a vida intrinsecamente conectada ao nosso arquétipo material? Se não, para onde ela iria depois que sua breve trajetória por entre nossos corpos chegasse ao fim? Essas questões de ampla dimensão são trazidas à tona em “The Tree of Life”, mas este não é um filme de divagações infinitas e abstratas; seu alicerce está no núcleo familiar que, não à toa, é envolvido por toda a magnitude do universo, desde o seu especulado princípio até o seu inacessível fim; desde as suas mais microscópicas manifestações até seus mais vastos e desmesurados aspectos, que nos fazem constatar o quão breve e pequeno somos diante de toda essa imensidão, tanto em dimensões físicas quanto em significado. Mas a mais fascinante beleza reside justamente neste contraste, entre o pequeno e o grande, entre um lado e o outro, entre a vida e a morte, o amor e o ódio. Esta é a beleza do universo, uma beleza trágica porém perfeita dentro de uma amálgama de imperfeições. E há, sim, um significado íntimo que sublinha todas as manifestações de vida. Nós, como humanos, só conseguimos compreender um tipo de significado, o nosso próprio. Com esta percepção, a direção não convencional de Terrence Malick tem como finalidade evocar aquilo que desperta em nós emoções, prazeres, anseios, afeto e desgosto. O diretor registra a intimidade de um típico ambiente familiar de uma época específica ao mesmo tempo em que sumariza a magnificência da origem do universo. Em ambos extremos, a complexidade é vigente. Há simplesmente muitas formas, emoções, sensações e dúvidas. Por isso, é com surpresa que testemunhamos a capacidade única com que Malick sintetiza o desenvolvimento da vida em seus mais variados estágios de beleza visual e emocional. Além do mais, o diretor se coloca sempre na altura de seus personagens, de modo com que virtualmente respiremos junto deles. “The Tree of Life” flui como uma obra de música clássica. A tonalidade de cada passagem varia de forma nítida, diluindo-se delicadamente conforme as emoções são impressas na tela. Visualmente, o filme é como um mosaico; as peças, aparentemente desconexas, formam uma espiral de filosofia e natureza humana, desvendando os sentimentos mais interiores de seus personagens e fazendo-os crescer durante a narrativa, assim como tudo cresce e se desenvolve durante o filme. Ilustrando a inquietude perfurante diante daquilo que nos intimida, o longa pinta a rígida figura paterna como um intimidante contraste de amor e ódio para seus filhos, assim como também sugere semelhante característica para a totalidade do universo e do suposto Deus, duas coisas que se impõem rigorosamente diante da insuficiência humana, às vezes nos recompensando com generosidade, às vezes com crueldade. De certa maneira, todos esses contrastes, todo esse conjunto de dualidades estão subjetivamente fundidos com nossa experiência de vida. Nós vemos as coisas através das óticas da pessoalidade; nós sentimos, nós desejamos e até nossos esforços mais racionais são revestidos do que chamamos de subjetividade - e assim descobrimos (ou inventamos) o significado em tudo, nas pequenas ou grandes coisas, num imaginário Deus ou em um simples e palpável pé de neném. Afinal, como poderíamos viver de outras formas se somos necessariamente espremidos pelo nascer e pelo morrer? “The Tree of Life” é uma poderosa ferramenta de evocação. O filme joga com elementos intrigantes e desperta as mais profundas sensações humanas ao exprimir a beleza do que há distante e do que há perto, flertando assim com a angustia do nascer, crescer e morrer, em suas mais extremas concepções. No final, percebemos que responder questões é um exercício ocioso e fútil dada esta incrível narrativa proposta. Mas ao menos o filme nos faz sentir, pois temos um histórico de emoções reservado em nossas mentes, e cada uma dessas emoções corresponde a algo mostrado aqui. A pergunta a se fazer é: o que você sentiu?
caetanobcb's rating:


O Homem do Futuro (2011)
Há muitas similaridades entre as noções de viagem no tempo de “O Homem do Futuro” e de outros filmes e séries de tevê que já abordaram o tema. Pegando emprestado muitas delas, este longa do diretor Cláudio Torres passa distante de soar original no que tange a ficção-científica aqui apresentada. Mas longe de fazer disso um problema, o cineasta concebe uma narrativa bem amarrada, segura o bastante para emular ideias do sub-gênero das viagens no tempo, e absolutamente autônoma na aplicação de seu tom, criando um filme que é ora uma comédia caricata, ora um romance tocante, ora uma verdadeira aventura que faz jus aos melhores e mais despretensiosos exemplares da ficção-científica. No filme, Wagner Moura tem a oportunidade de encarnar até três versões de um mesmo personagem, alcunhado de “Zero”. Na representação das três versões, Moura demonstra um divertimento absoluto, concebendo primeiramente um caricato “cientista maluco” com todos os trejeitos e maneirismos exigidos pelo tipo - algo que se reflete também em seu figurino e no seu cabelo totalmente anarquizado. Da mesma forma, Moura compõe um típico nerd estudante de física que, além de todas as características que um personagem deste tipo demanda, ainda tem o adicional da gagueira, tornando-o ainda mais caricato, porém muito mais desajustado e divertido. Por fim, a terceira versão de Zero, um homem bem mais maduro e confiante, mas não menos fracassado, é construído por Wagner como se fosse uma pessoa completamente diferente, contrastando abundantemente com a personalidade de sua versão adulta e louca e de sua versão jovem e nerd. As diferentes representações de Moura, aliás, causam um curioso fenômeno na relação dos personagens. Em certo momento, as três versões de Zero se encontram na mesma linha temporal, e de maneira exponencial suas personalidades vão se intensificando e se distinguindo uma da outra. O nerd passa a ser mais bobo e infantil, o cientista mais nervoso e esbaforido, e a terceira versão de Zero alguém muito mais seguro e consciente do que qualquer outro. Toda a caracterização dos personagens, bem como suas relações entre si, são pontos cruciais para o bem sucedido humor que o filme apresenta, se revelando tão eficaz quanto seu pano de fundo romântico, além de conferir uma visão nítida das diferenças que variadas realidades temporais podem causar a uma mesma pessoa. E ainda que acerte em cheio na sua abordagem cômica, “O Homem do Futuro” tem o romance como elemento fundamental de sua trama, que equilibra com eficiência os momentos de humor e os momentos sentimentais. E se tem uma coisa que faz de “O Homem do Futuro” um filme fluido e envolvente é o seu ritmo turbulento desde o início, já logo estabelecendo e nos preparando para a intensidade emocional de sua história, que mesmo apostando em uma tonalidade variável, jamais abandona a atmosfera irrequieta e urgente de sua narrativa. Enquanto a trilha instrumental do filme cumpre seu papel ao auxiliar a atmosfera das cenas, as ótimas canções que vez ou outra tomam conta de nossos ouvidos são certeiras ao evocar a nostalgia da época (que, aliás, é muito bem retratada pela direção de arte e pelos figurinos), além de também funcionarem como constantes no meio de toda essa equação temporal, simbolizando um elemento familiar para os personagens nas diversas linhas temporais. “O Homem do Futuro” ainda conta com uma interessante interpretação das consequências da mudança do tempo. O filme, ao seu final, parece assumir uma agridoce ideia de que os momentos mais efêmeros, porém felizes, devem ser perpetuados e não alterados pelo bem do quadro geral, já que a mudança eventualmente traria implicações ainda mais infelizes do que o que estaria prestes a acontecer logo após o momento de alegria repetido tantas vezes durante o filme. A troca de um momento único e marcante por um panorama mais confortante não parece ser uma boa escolha, diz o filme - e não apenas pela razão de se evitar uma desgraça maior, mas simplesmente pela lástima que seria excretar aquela felicidade que vive naquele pequeno momento, assim como quase todos os momentos felizes de nossas vidas habitam os instantes mais breves e fugazes. Mas infelizmente o final da narrativa não reforça essa noção, investindo em um desfecho que apesar de coerente e bem amarrado, é um perfeito exemplo da “síndrome do final feliz” entrando na frente de uma ideia muito mais interessante. Entretanto, “O Homem do Futuro” se faz mesmo valer por todo o seu resto, e é certamente um dos filmes de mistura de gêneros mais interessantes dos últimos anos.
caetanobcb's rating:


Tomboy (2011)
Existem alguns filmes que além de todas as virtudes técnicas, narrativas e criativas, são especialmente importantes pelo registro ou comentário que faz acerca de um assunto. E quando estes filmes se comprometem a tratar de um assunto em específico que não costuma receber muita atenção do meio artístico-cultural, estes conquistam o potencial de se revelarem ainda mais interessantes. Some isso tudo com uma autêntica abordagem e temos “Tomboy”, o filme que retrata o fenômeno da inconformidade de uma garota com sua identidade sexual, conhecido pelo próprio nome conferido ao título do filme: Tomboy. A Tomboy do filme é Laura, uma jovem garota cuja aparência muito se assemelha a de um garoto, desde os traços físicos e naturais de seu corpo - que por ainda não ter desenvolvido por completo as características femininas, admite certa semelhança com o físico masculino -, até os estéticos; seu cabelo curto, suas vestimentas masculinas e sua tendência de sempre engajar em brincadeiras predominantemente desfrutadas por garotos. Além disso - talvez o fator essencial -, Laura também sente atração por outras meninas, e logo se envolve com uma amiga pelo qual também recebe farto afeto. Mas sua amiga não sabe de sua verdadeira identidade, tampouco o restante dos garotos com quem Laura, assumindo-se como um menino chamado Michael, rapidamente faz amizade. Além de trazer para a película este assunto delicado e digno de compreensão, a diretora e roteirista Céline Sciamma trabalha sua narrativa de modo a simplificá-la, porém jamais tornando-a redutiva, uma vez que a cineasta demonstra uma sensibilidade patente com os mais aflitos e complicados percalços da inconformidade que assola Laura, e simultaneamente constrói sua trama de maneira econômica e objetiva, sem criar nenhum tipo de alarde, apenas permanecendo centrado e compreensivo ao curioso caso da protagonista. Poderia muito bem o filme saltar em cima de momentos dramáticos e explosivos - o que, dado o potencial de seu tema, não seria necessariamente uma má ideia. No entanto, a cineasta parece não querer se aproveitar do tópico que tem em mãos para pontificar lições ou introduzir críticas, tampouco para comover o espectador usando algo além do que é puramente visto em tela. Se o roteiro de Sciamma perfaz algum tipo de comentário, é de forma sutil e natural, já que a diretora está mais preocupada mesmo é no relato sincero e plano de um assunto que após as poucas horas de projeção, aí sim ganhará relevos e fomentará discussões entre os espectadores. E as intenções da diretora com tal pureza se refletem na própria família de Laura que é aqui construída. Quando a identidade masculina criada pela garota é desmistificada e exposta para toda a sua família, recebemos de sua mãe o que seria a reação mais próxima do irracional, do intolerante - algo que, embora ainda repreensivo, se justifica diegeticamente. Apesar disso, a família de Laura se mostra muito compreensiva (inclusive sua mãe, posteriormente), e o aparente conflito familiar repousa aí. Quando encara seus amigos, já cientes de seu verdadeiro sexo e de como a personagem os enganou esse tempo todo, Laura tem de sofrer com os olhares infortúnios de crianças cuja carência de compreensão e conhecimento ainda condenam e humilham sua condição. O filme não faz nenhum esforço para resolver a aceitação de Laura dentro do meio social - afinal, como poderia? Isso já distanciaria muito o filme do seu principal escopo. “Tomboy”, ao invés disso, parece enfatizar ao seu final aquele que é o passo primordial para alguém como Laura: a aceitação de sua identidade natural. Pois aceitando que é naturalmente uma garota, Laura também aceita tudo aquilo que lhe é inato, que está presente em sua gênese e que se manifesta espontaneamente. Ela aceita que é uma garota, e aceita que gosta de outras garotas, e aceita que gosta de se vestir e comportar como garotos, e assim aceita as demais pessoas como naturalmente são. E assim deveríamos todos nós.
caetanobcb's rating:


Midnight in Paris (2011)
A nostalgia tem a capacidade de nos fazer desejar aquilo que já se passou, de querer reviver aquele momento ou fase da vida. Mas o distanciamento que nós temos daquilo é precisamente importante; é o que faz o sentimento nostálgico ser o que é, uma simples sensação de saudade, de adulação do que se encontra registrado em documentos e memórias, mas que nunca tomará forma novamente, não da exata maneira como uma vez foi. A arte, por outro lado, é aquela que não só nos proporciona uma escapatória para lugares inimagináveis e completamente fictícios, como também para aqueles que já foram uma vez lugares concretos, momentos e sentimentos, mas que hoje não passam de recordações. Nós temos no gênero da ficção-científica, por exemplo, uma imensa leva de obras que mediante a ideia da viagem no tempo já transportou personagens para diversas épocas e lugares com o intuito de ou consertar algo malfeito ou simplesmente reviver um instante saudoso. Em “Midnight in Paris”, Woody Allen adentra no famigerado mundo da viagem no tempo justamente para fazer o último: reviver. Entretanto, o cineasta não trabalha essa ideia com o revestimento da pseudo-ciência e das propriedades físicas que supostamente permitiriam uma viagem através do tempo. Não, Allen não está interessado em ficção-científica; Allen está interessado na mágica, no encanto, naquele sentimento de exaltação em torno de um deslumbre que nos leva a lugares que anteriormente apenas habitavam nossas memórias. A lógica interna empregada por Woody Allen em sua narrativa consta que em determinado ponto da cidade de Paris, exatamente à meia-noite, na batida dos sinos, um personagem pode ser subitamente deslocado para a década de 1920. Uma década que além de aspirar o inveterado brilhantismo da capital francesa, também era meca artística dos nomes mais conceituados da literatura, pintura e até mesmo do cinema. E com essa sacada oportuna, Allen se deleita com as possibilidades cômicas de seu roteiro ao conceber um protagonista carismático e jogá-lo em uma realidade titilante, que abarca tanto o estilo romantizado parisiense quanto o caricato de seus personagens históricos. O cineasta não tem intenção de explicar as propriedades mágicas de sua desvairada aventura. A magia simplesmente acontece, como se fosse parte fundamental da idealizada e elegante Paris. Uma cidade que logo no início do filme já nos é apresentada por meio das tomadas que consignam os principais e mais belos pontos turísticos da metrópole - e que, por serem tomadas que dispensam qualquer encenação, contrastam e ao mesmo tempo fundem-se com o restante de Paris que é vista no decorrer do filme, sugerindo a natureza mágica da cidade não apenas como um elemento subjetivo, mas natural da mesma. Abusando das possibilidades de seus regressos ao passado, a trama de “Midnight in Paris” cruza no caminho do protagonista feito por Owen Wilson, o escritor de filmes hollywoodianos Gil, as mais diversas figuras artísticas da antiga Paris, e pertinentemente as usa em favor de seu protagonista, além de assim construir inspirados momentos de humor que se revelam cada vez mais inspirados e oportunos - como quando, no restaurante em que se desilude ao se despedir de Adriana, encontra-se com o grupo de surrealistas formado pelo fotógrafo Man Ray, o cineasta Luis Buñuel e o pintor Salvador Dali, que surgem em um momento demasiado conveniente, e por isso mesmo hilário, resultando em uma das sequências mais engraçadas de todo o longa. Como enobrece a magia, o deslumbre, “Midnight in Paris” confere a Gil um desfecho daqueles típicos da Era de Ouro do cinema, mas mesmo assim consegue identificar problemas com sua tese e sua antítese. Tampouco o protagonista atura um final amargo, preso aos laços de sua noiva e seus amigos pedantes e aborrecidos, tampouco permanece no passado com a belíssima Adriane, que quando regressa ainda mais no tempo (naquela que acreditava ser sua Era de Ouro, o ponto nostálgico onde sonhava habitar), faz o protagonista compreender o grande problema que é viver no passado, e perceber o verdadeiro encanto da nostalgia, cuja agridoce beleza deve ser apreciada à distância. Resta a Gil, então, a síntese: permanecer e conviver com seu presente, mas no desfrute absoluto da nostalgia, quando encontra um par que vive em seu tempo mas que respira o passado; o par ideal, e que prazerosamente o acompanha debaixo da chuva de Paris.
caetanobcb's rating:


Crazy, Stupid, Love (2011)
Nos últimos tempos, os filmes românticos - principalmente as comédias românticas - parecem ter passado por uma ligeira renovação. É notável como os romances formuláicos e clichês de dois protagonistas cederam espaço para aqueles que, a fim de renovar o gênero e brincar com as convenções dele, apostam não apenas em dois personagens perdidamente apaixonados um pelo outro, mas vários deles, em um só filme, dividindo as mesmas amarguras e doçuras do amor e do estado de paixão. É mais ou menos como aquela noção presente no humor de que se repetirmos uma piada ruim várias vezes, ou então aumentar sua proporção, ela eventualmente se tornará engraçada. Divergências sobre essa artimanha à parte, “Crazy, Stupid, Love.” é mais um filme que traz praticamente todo o seu elenco envolvido em algum tipo de relacionamento problemático ou querendo se envolver em um também problemático. Mas se o longa segue a tendência atual das comédias românticas, ele o faz de forma particularmente interessante, ao criar sub-tramas que não apenas se convergem num sentido temático como também de dependência direta. Cada personagem apaixonado tem um tipo de ligação com o outro, e essas ligações são exatamente os problemas de seus relacionamentos ou supostos relacionamentos. O quadro geral da narrativa é bastante intrincado, e por isso mesmo o filme consegue soar interessante e fresco em meio a tantos semelhantes. Mas não podemos esquecer, “Crazy, Stupid, Love.” é também uma comédia, e uma muito boa. Aliás, diria até que tão mais o filme funciona por seu humor quanto por seu lado romântico. Steve Carell encarna o protagonista Cal, e o roteiro é generoso com o ator; o oferece um papel que não só lhe concede a chance de explorar seus dotes cômicos mais característicos como também entende o potencial dramático que ele pode evocar, permitindo ao ator investir com sucesso principalmente no estado depressivo que o personagem assume em alguns momentos da história. O humor de “Crazy...” vigora mais durante a primeira hora de projeção, quando a película encontra na parceria dinâmica entre o deprimido e recém descasado Cal e o garanhão e invejavelmente elegante personagem de Ryan Goslin, Jacob, um enfoque bem-sucedido para compor os momentos mais engraçados. Cal é simplesmente hilário em qualquer diálogo seu com mulheres; e Jacob, ainda que tenha sua persona desgastada em favor da comédia, desperta boas risadas quando desempenha o papel de Sr. Miyagi para Cal. A professora dissimulada que cai na rede de Cal (e que, surpresa: é professora de seu filho!), interpretada por Marisa Tomei, é também um alto ponto cômico do filme. Mas o maior deles, sem dúvida, é aquele em que todos dos personagens apaixonados inesperadamente se encontram em um mesmo lugar e surpresas e pequenas tragédias se rompem. A cena é um marco no filme; pode parecer um pouco forçada, mas se sustenta diante das peças anteriormente estabelecidas e é também o melhor uso da “situação clichê” que o roteiro ora ou outra emprega de forma auto-consciente. Mas para tudo isso - brincadeiras com as próprias convenções e aumento de proporção - há um romance, aquele que é independente da comédia; aquele que precisa provar-se para além de seu propósito cômico. E é justamente neste aspecto que “Crazy...” coloca a perder sua força, seu frescor. O personagem de Goslin, por exemplo, é um pegador nato no começo do filme, funcionando relativamente bem como membro cômico. E se humanizá-lo (eufemismo para “questionar sua moral e subitamente transformá-lo em uma pessoa que o roteiro julga ser melhor”) é interessante a princípio, o roteirista acaba desenvolvendo seu arco de forma artificial e típica somente pelo bem de reforçar seu ponto de vista temático. É infeliz observar, também, como o roteiro demonstra preguiça em ressaltar os eventos internos de seus personagens. É preciso que o sonho de Cal - após ter ido para a cama com várias mulheres - seja ilustrado para sabermos que ele ainda se importa com sua mulher; é preciso que Jacob tenha uma noite de conversinhas - ao invés de sexo - com a personagem de Emma Stone para que acreditemos que ele quer algo mais com ela; é preciso que a personagem de Julianne Moore telefone para Cal pra falar sobre um assunto quando na verdade... Bem, estes são apenas alguns exemplos da fragilidade de “Crazy, Stupid, Love.” na esfera do romance. Sim, sim, o discurso de formatura dado por Cal é passável e autêntico ao personagem, mas ainda muito óbvio. O filme é bonito, tem suas partes melancólicas e até amorosas que devem ser levadas em consideração, mas se sai muito melhor quando quer ser engraçado. Eu apreciei o filme, ri com o filme, mas o único insight que ele me ofereceu sobre relações humanas e especialmente amorosas é a de que há almas-gêmeas e a de que devo lutar por elas. Bem, eu tentarei, mas prefiro muito mais assistir ao filme de novo e dar mais algumas boas risadas com ele.
caetanobcb's rating:


Mr. Popper's Penguins (2011)
Há tempos não via o conceito de “entretenimento familiar” estampado de forma tão impudica por todos os cantos de um filme. A concepção popular do tipo de “programa destinado a toda a família” sempre abarcou qualidades positivas, inofensivas, aparentemente instrutivas e altamente divertidas. Conceber um produto com o intuído de ser um “entretenimento familiar” se tornou praticamente um sinônimo de produção ruim, com narrativas gastas, sem nenhuma fagulha de inovação artística ou conceitual. Todos se sentem à vontade para sentar na frente da televisão ou ir ao cinema para assistir a um filme que seja “para a família”. Pois todos sabem o que vão encontrar nesse tipo de obra, tanto em termos de forma quanto de conteúdo. Só restam, então, os pequenos caprichos que o filme inventará para poder entreter o espectador sem que este busque na memória um filme exatamente igual àquele que está vendo - e, assim, o julgue repetitivo, ou uma cópia. E pra não dizer que “Mr. Popper’s Penguins” não oferece nada de novo, é justo dizer que o filme tem pinguins, muitos deles. Pinguins que são pintados aqui como animais mais inteligentes do que de costume, engraçadinhos e antropoides. As aves muito lembram aquelas criaturinhas presentes em massa nos filmes modernos de animação, cuja única função - já que geralmente carecem de relevância narrativa - é a de conquistar o espectador com sua “fofoura”, esperteza e divertimento. E ainda que os pinguins aqui sejam personagens decisivos e tenham importância narrativa, só o fato de existiram já é enervante. Porque os pinguins não são divertidos, eles querem ser, o roteiro faz de conta que são, e os personagens entram na onda. Na verdade, todos os pinguins - que possuem cada um uma característica nítida que os diferencia e os dá nome - são irritantes, muito irritantes, e é sintomático que os personagens ao redor deles também sejam. Pois se podemos declarar que um personagem é divertido apenas por ser, podemos também declarar que ele é irritante apenas por ser. Mas neste caso ainda há muito mais fundamento: a inacreditável apegação do protagonista Popper por seus pinguins vem a calhar com os valores que o filme quer transmitir - e isso, mais o fato de que todos são personagens bobos que se comportam de forma estúpida, é razão o suficiente para que sejam irritantes. E mais: o uso das criaturas como metáfora é óbvio, e se torna cada vez mais óbvio com o passar do tempo. Jim Carrey, que é um cara simpático, só precisou mesmo desta qualidade para ganhar o papel, uma vez que seus dotes cômicos são suprimidos, simplesmente não aparecem. Seu personagem, que teve problemas com seu pai, sintomaticamente também possui problemas em ser um bom pai. E aí ele tem um filho pequeno que nunca deseja desapontar, mas geralmente o faz mesmo assim; uma filha adolescente que ora o acha um ótimo pai, ora o pior pai do mundo, e cujo único grande drama é a falta de consideração paterna por suas incertezas amorosas; e uma ex-mulher que - adivinhem - ele ainda quer de volta. A princípio, ele não quer nada com os pinguins, que são presentes de seu recém-falecido pai. Mas ele eventualmente aprende a apreciar suas companhias, aprende que com eles pode unificar toda a sua família - sem contar que o personagem também serve de porta-voz para o roteiro que parece querer exprimir seu desdém pelos “bons cuidados com os animais” ao conceber o agente do zoológico como um vilão unidimensional e alastrar a mensagem de que apenas amor e carinho são necessários para cuidar bem de pinguins (e por extensão da mensagem metafórica, de qualquer um). (E convenhamos que, mesmo que o zoológico não seja o melhor lugar para os animais, tampouco é o apartamento de um homem). Voltando para o fato dos pinguins serem irritantes, bem, eles são. Porque são responsáveis por toda a besteira não construtiva que a premissa do filme imprime pela enésima vez, só que agora na forma de pinguins, ao invés de qualquer outro dispositivo narrativo que exemplifique para as crianças, pais e demais: “vamos nos amar, vamos ser pessoas melhores, vamos ficar juntos, a família deve permanecer unida”. E este é, sem dúvida, o “melhor” exemplo de “entretenimento familiar” que temos. Eu passo.
caetanobcb's rating:


The Ledge (2011)
“The Ledge” é um filme muito interessante. Sua proposta é direta, e embora as discussões em torno de questões religiosas e ateístas já estejam demonstrando seus traços arcaicos, o tópico ainda é relevante o bastante para não deixar de ser debatido, e quanto mais aprofundado e sensato o debate for, mais proveitoso e construtivo ele tende a se tornar. E talvez pela pretensão de tocar em pontos incisivos de forma tão direta e estabelecer um esquema maior a partir de sua premissa, “The Ledge” tenha se saído consideravelmente mal na tarefa de contribuir para este assunto, e infelizmente falhado também como exercício de gênero, embora as remanescências de sua intenção ainda permaneçam interessantes, apesar de tudo. Uma das falhas fundamentais do filme reside na construção de seus personagens. Nós temos um detetive, católico e pai de família que descobre a traição de sua mulher quando lhe é revelada sua infertilidade; nós temos um casal religioso, formado por um fundamentalista cristão e uma mulher que se assemelha com uma santa (mas que, como revelado, não é); e nós temos finalmente aquele que é ateu, racional e aparentemente um melhor rapaz do que todos os personagens citados acima. Os arquétipos são bastante óbvios, mas o filme poderia sair ileso deles se não fosse o modo expositivo como suas personalidades são apresentadas e desenvolvidas no decorrer da narrativa. Os diálogos se empenham em nos expor o quesito religioso/não-religioso de suas personalidades, deixando outros aspectos de suas personas ensombrados. Mas assim, com um texto expositivo e direto, o filme até arranca alguns embates ideológicos interessantes apesar do modo artificial como o assunto da religiosidade surge nas conversações. Em dado momento, porém, quando dois personagens se juntam em uma sala especificamente para essa finalidade, a de debater suas filosofias, a narrativa coloca protagonista e antagonista (se é que podemos chamá-los assim) em uma discussão inflamada sobre os benefícios e malefícios da religião. Além de conferir aos dois personagens pontos e contrapontos construtivos e interessantes, essa cena também estabelece o conflito entre os dois para mais adiante. Só é uma pena que as figuras criadas pelo cineasta Matthew Chapman, com princípios tão bem definidos e atores competentes por trás delas, careçam de mais dimensões, e apenas sejam a pura insígnia de suas crenças, religiosas ou não. O roteiro escava, aqui e ali, o passado de cada um, quando é oportuno, mas nós ainda continuamos sem saber exatamente como foram moldados, que outros aspectos de suas personalidades influem em suas convicções espirituais e que outros pontos decisivos de seus passados os fazem ser o que são no presente. Trazendo à tona céu e inferno, novo testamento e velho testamento, homossexualidade e afins, “The Ledge” ameaça compreender uma boa quantia das questões geradas pela religiosidade, mas acaba deixando tudo pendente em prol de querer se estabelecer também como um thriller - tarefa que o filme falha com ainda mais vigor. Enquanto a primeira hora do longa é recheada de diálogos, a segunda se reveste mais de ações, e seu caráter de suspense se torna mais saliente (aproveitando-se do pequeno mistério plantado no início da trama). O problema é que a direção pouco participativa e a fotografia inexpressiva sequer demonstram esforços para imprimir clima, ritmo e atmosfera quando o filme realmente precisa disso, deixando o trabalho todo para a insuficiente música instrumental. Além disso, “The Ledge” joga pelos cantos a sub-trama envolvendo o detetive, que poderia ser desenvolvida de forma bem mais orgânica se recebesse mais atenção da história. O final do longa é bem dramático, e se o teor emocional dos minutos finais não atinge aquilo que almeja é porque o filme realmente se atrapalhou na condução de sua narrativa, seja no sentido criativo ou no temático - que no final das contas acaba não acrescentando muito ao assunto, apenas deixando-o como está e como quase sempre foi, o que reforça meu pensamento sobre como essa discussão arcaica, ainda que importante, só não sai do lugar por puro capricho daqueles que não querem integrar apenas um pouquinho de razão nas suas vidas. Parece simples, mas não é. E por isso o filme poderia ter se esforçado mais.
caetanobcb's rating:


Terri (2012)
No final de “Terri”, quando o protagonista homônimo trilha o caminho matagoso que cotidianamente percorria para ir de casa até a escola, pude perceber, ao notar o singelo sorriso de Terri, enquanto o sol lhe banhava, do que realmente o filme se tratava. “Terri” é um daqueles filmes que prezam a simplicidade narrativa em busca de pintar um retrato autêntico e passível de estudo de seu protagonista, desenvolvendo-o por meio de elementos de seu dia-a-dia e das mudanças que se fazem presentes a partir do início da trama, e eventualmente, traçando por meio disso sua evolução. “Terri” nos introduz a um protagonista que logo na sua primeira aparição em tela já notifica o espectador de seus problemas mais óbvios. Com o passar da narrativa, observamos o garoto obeso e rejeitado em seu colégio aturar as questões mais clichês que uma pessoa como ele costuma enfrentar. E sem dúvida “Terri” é um filme clichê. Há, entretanto, de ser levado em conta a extensão desse clichê, pois um protagonista como Terri é, de certa forma, um clichê da vida, não só dos filmes. Ele sofre do tão dito bullying e também estabelece uma inusitada conexão com pessoas, como com o condescendente diretor da escola, o perturbado e importuno garoto Chad, e a garota bonita com aspecto de líder de torcida que eventualmente passa a ser rejeitada por toda a escola devido a certo incidente. O diretor, interpretado pelo sempre ótimo John C. Reilly, é construído com saboreio pelo ator, responsável pelas ocasionais cenas de humor que o filme apresenta tão bem. Mas seu personagem também é aquele que toma como inevitável responsabilidade cuidar e zelar pelas figuras que mais precisam de ajuda na escola, os tais “estranhos”, ou “monstros”, como dizem no filme. Ele é, de certa forma, o ponto gravitacional de toda a narrativa. Como mostrado no filme, Sr. Fitzgerald foi uma vez um garoto rejeitado, e sua assumida boa ação não passa de uma forma de fazer para aqueles alunos o que talvez não fizeram para ele, e mostrar, através de discursos cheios de divertidas analogias e morais, como eles podem se tornar uma pessoa melhor para si próprios, apesar de todas as atribulações que os acompanham. Sr. Fitzgerald se coloca na mesma altura de Terri, ele reconhece que não tem todas as cartas para salvá-lo, seja lá do que for; apenas que ele quer ajudar o garoto. O diretor não diz que ele também aceita alguma ajuda, porém acaba abrindo uma brecha para recebê-la. Pois no final, depois que Terri descobre que o diretor anda dormindo em seu carro e os dois partilham de momentos agradáveis e amigáveis dentro da escola, a dupla acaba se estabelecendo como amigos que prestam ajuda moral mutuamente, e não só de um para o outro. E além dele, Terri também se aproxima da bela Heather, logo quando ela mais precisava de alguma generosidade emocional. Chad, um garoto que demonstra sua carência através de gestos impertinentes, também estabelece uma relação vagamente próxima de Terri. O filme é basicamente sobre esse firmamento de relações, que podem não ter significado definido e concreto, mas que de uma forma humana e reconfortante aproxima essas figuras e seus problemas interiores, e através de uma condescendência disfarçada, talvez um pouco quista, mas consentida por todos, acabam se ajustando. Não permanentemente, talvez não idealmente, talvez ainda lidando com a vergonha. Mas em um sentido vago, acabam se sentindo bem, especialmente, é claro, o nosso protagonista, como nos confidencia a cena final. A narrativa de “Terri” algumas vezes passa aquela impressão de que não sabe bem o que quer transmitir, apenas que quer transmitir algo, recorrendo aos já citados clichês para imprimir o peso e o imediatismo dos problemas dos personagens - e que, como são clichês passáveis, acabam funcionando em favor dos arcos de seus personagens -, e aparentemente não sabendo bem manejar seus pólos temáticos. Há, no entanto, uma sequência fascinante no ato final do filme, quando Terri, sua amiga Heather e o problemático Chad passam a noite juntos. Esse segmento do longa fascina particularmente por sua extensão - destoando do ritmo sucessivo e subentendido de cenas que a montagem emprega - e por sua volubilidade de sentimentos. A situação é estranha, constrangedora, desconfortante, mas também excitante. Ela tem um significado íntimo para aqueles personagens, que incertos experimentam a sensação da conexão e interioridade humana. É tudo muito sensível, ainda que estranho, e Terri não sai ileso daquilo. Ele fica melhor, ele ganha uma motivação para sorrir.
caetanobcb's rating:


Quando olhamos para o céu, sentimos essa estranha sensação de esmagamento por todo aquele conjunto de estrelas, planetas, luas, escuridão e infinitos mistérios que constituem o universo. É, também, uma sensação libertadora, mágica; é o que espreme nossos egos e nos faz esquecer por um instante de todas nossas leis morais e materiais aqui da Terra e ceder, virtualmente, à sedução daquilo que está acima de nós. Claro, nós não podemos acessar o que está lá em cima, não de modo casual e ilimitado. Por enquanto permanecemos aqui, em nosso velho e único planeta, que sabidamente já não é mais imune aos olhos indiferentes ou antipáticos daqueles que simplesmente não enxergam nada de especial ou maravilhoso nesse corpo espacial que nos abriga, seja pelo motivo que for. Em “Another Earth”, nós temos dois personagens literalmente no extremo de um triste cenário. A primeira, Rhonda, uma jovem que cumpriu pena na prisão por ter matado em um acidente de carro uma mulher grávida e seu filho pequeno, além de ter mandado para o coma o pai dessa família; o segundo, John, o próprio esposo da mulher e pai do garoto morto, acorda do coma e encara lúcido, pela primeira vez, sua vida sem sua família. Ambos os personagens parecem esmagados diariamente por esse peso que carregam. De um lado um homem que se sente vítima da impiedade do acaso, ainda que cultive uma grande raiva por aquele responsável pelo acidente, e que assim se confina em sua casa em meio a doses de bebida e cochilos constantes; e do outro, alguém que se sente tão culpada pelo que fez que se vê incapacitada de seguir adiante sem que recorra à autopunição ou à compensação daquele que vitimou e mais sofreu por seus atos. A presença da “Terra 2” - ou seja, de uma cópia idêntica do nosso planeta - na narrativa nada mais representa do que a materialização desse sentimento que temos quando olhamos para o céu. É algo novo, que inspirada inúmeras novas possibilidades, para o bem ou para o mal, e que reparte nosso ego em dois, um lá e um cá; é a imensidão do universo concentrada naquela bola azul que de repente tornou tal mágica tão mais palpável ao consumo. A função narrativa deste outro planeta é muito bem estabelecida pelo roteiro, e embora sua presença ainda influa um fundo filosófico que ora ou outra se faz presente no diálogo dos personagens (e que, claro, torna o filme ainda mais interessante), sua existência jamais é alvo de escrutínio por parte da trama, como provavelmente ditaria uma tradicional ficção-científica. Não, pois “Another Earth” é, em sua essência, um poderoso e sensível drama, muito mais preocupado com seus personagens do que qualquer outra coisa, e não por acaso o diretor Mike Cahill exibe cuidado e sensibilidade na concepção e desenvolvimento deles. Rhonda, por exemplo, é apresentada como uma jovem de inteligência notável, embora oprimida pelas oportunidades que não teve devido ao acidente, e por isso é mais do que apropriado que saia desta os mais fantásticos pedaços de diálogo do filme. Em “Another Earth” Rhonda é o foco moral; ela é uma boa pessoa, e tenta fazer o possível para compensar por sua infeliz ação de outrora. Ela chega a questionar se faz aquilo por ela ou por John. Ela subliminarmente admite para ele todo o propósito de estar fazendo aquilo através da fascinante analogia com a história do cosmonauta russo, e demonstra o mesmo zelo com as palavras quando efetivamente revela a ele quem de fato é. E enquanto tudo isso acontece, paira sobre o céu a segunda Terra, a segunda chance, que Rhonda tanto deseja ter, mas que num raciocínio ponderado, porém não menos emotivo, percebe não ser pra ela. Ela percebe que quando John olha para o céu, essa estranha sensação que consome a todos é muito mais cortante e intensa para ele, por tudo o que ele perdeu. A segunda Terra é apenas um dispositivo que permite a redenção desses personagens; a melhor forma de realizarem o que é melhor para um e para o outro. O filme representa o reconhecimento do egoísmo e então sua supressão; representa a redenção como um exercício de ponderação e bom-senso, não apenas de súbita salvação. É uma história bem contada sobre uma pessoa fazendo o bem para a outra, e no caminho também se salvando.
caetanobcb's rating:


Trespass (2011)
Não me há dúvidas de que Reféns pode proporcionar a muita gente uma grande gama de entretenimento e diversão. Enquanto assistimos ao filme, nos sentimos aflitos, interessados e até torcemos pelos personagens do “bem” naquelas situações diminutas e cruciantes que os encurralam. Afinal, é isso que o filme quer de nós: a atenção e a recepção simples e direta do que está se desenrolando na tela. Mas para tornar a experiência ainda mais caprichosa, o longa também deseja nosso reconhecimento cinéfilo ao também dispor de uma trama, diria, “inteligentemente elaborada”, que nem sequer por um minuto - e aqui quase me aproximo de não ser hiperbólico - nos poupa de uma reviravolta ou revelação supostamente impactante.
A história é bastante ordinária. Uma rica família composta por um pai (Nicolas Cage), uma mãe (Nicole Kidman) e uma filha adolescente (Liana Liberato) é, num belo dia, feita de refém quando um grupo de quatro assaltantes irrompem a esbelta residência onde moram e fazem de tudo para conseguirem os diamantes que o personagem de Cage supostamente resguarda em um cofre. A premissa é básica, simples, gasta. Mas ainda é um prato cheio para a construção de um bom thriller. A própria casa que serve de cenário para praticamente todo o longa, aliás, já expele os odores de um filme do tipo. Entre os cômodos podemos observar parcas divisórias; a moradia é exageradamente grande (dentro e fora, o que não à toa incentiva o roteiro a explorar um pouquinho de tensão nos arbustos que rodeiam a casa) e os espaços entre os móveis são folgados. O perfeito cenário para que uma família feita de refém e assaltantes muito determinados se destruam é escancaradamente estabelecido.
E se a casa é o arquétipo perfeito para abrigar um filme deste gênero, seus personagens, então, são reflexos dela. O pai ricaço que rebaixa sua família em função dos negócios; a esposa que vive resignada e aquém de suas potenciais realizações; e a irritantemente estereotipada - porém super esperta, como todos os personagens juvenis de Hollywood - filha adolescente do casal. Do lado oposto, o grupo de assaltantes de nada inova ao trazer como componentes um líder ambíguo o suficiente para que nós acreditemos que no fundo ele possa ser uma espécie de anti-herói; um brutamonte que de antemão já sabemos que nunca será humanizado e que está lá apenas para descer a pancadaria; o excêntrico rapaz bonito e jovem que justamente por sua inexperiência pode acabar se revelando como um aliado; e uma mulher que, sem querer fazer julgamentos feministas, porém apenas observando a tendência, é retratada como a mais fraca e imprudente do grupo, sendo tais qualidades reforçadas por também possuir uma escrachada alteração em função de sua dependência de drogas e da relação de afeto que tem por outro assaltante.
Mas se Reféns ainda insiste em nos apresentar o padrão típico e superficial de personagens, pelo menos tenta desmistificá-los não ao alterar bruscamente seus arquétipos, mas conferir justificativa e credibilidade a eles. E assim, o que de início parecia ser um interessante e correto rumo a ser tomado pelo roteiro, apenas serviu como base para desencadear o mais vicioso hábito do filme: as reviravoltas. Eu não consigo me recordar de outro filme que possua tantas reviravoltas quanto esse. Algumas são plausíveis, outras apenas levantaram minha suspeita de que aquilo não fazia muito sentido, outras são banais, apenas para fazerem número e fazerem jus ao que o filme quer se especializar. Não me entendam errado, as reviravoltas, no geral, são boas. Mas a partir do momento em que começo a notá-las com tanta facilidade e contá-las mentalmente ao invés de apenas apreciar suas funções narrativas ou o impacto que proporcionam, é porque elas realmente não estão funcionando tão bem.
Então quer dizer que o pai da família que supostamente possuía a grana e os diamantes na verdade não os possuía, porém tinha uma pilha de dinheiro escondida em outro lugar que não o cofre e estava apenas relutando em entregar tudo e arriscando a vida da família para proteger o dinheiro que estava guardando para eles?! O líder do grupo de assaltantes fazia tudo pela mãe com insuficiência renal, mas na verdade isso era mera balela dramática; ele queria mesmo era pagar a dívida que tinha com o chefe do brutamonte depois que a mercadoria dele (chefe) foi roubada em sua posse por um pessoal que, ta-dã, era também o pessoal de seu irmão psicótico e traidor que estava tendo um caso com a esposa inocente de Cage, como nos garantiu os repetitivos flashbacks que, ta-dã, eram só um truque de percepção que na verdade davam a entender que os dois tinham um caso, quando de fato só ele, louco de pedra, imaginava isso.
Tenho certeza que me esqueci de algumas reviravoltas que se sucedem durante o filme, isso se não tiver me embaralhado com a maioria delas. E pra tantas reviravoltas, pra tantas piruetas que a trama dá, Reféns acaba se tornando um thriller que entrete especialmente por servir como uma involuntária aula básica de como se criar uma narrativa. Não por seus trunfos enganosamente espertos ou elaborados, mas pelos mecanismos e conceitos de seu roteiro que o próprio roteiro expõe de forma tão excessiva, evidente e gritante. Não há como não notar a quantidade dos chamados payoffs que o filme possui. São as chamadas recompensas: é o isqueiro aparentemente sem importância que será inesperadamente útil em múltiplas partes do filme; é o local em que um carro quase se acidenta que será inacreditavelmente útil para o êxito de um personagem; é a máquina de prego que é mostrada e que mais tarde se revela essencial para que alguém se salve; é a injeção que não encerra sua participação depois de apresentada... Tudo se repercute durante o filme, tudo é muito bem amarrado, quando não implausível. Mas recorrer de forma tão excessiva a mecanismos tão elementares de um roteiro para me causar tensão e interesse, no final, acaba não me proporcionando nada além de uma trivial e esquecível boa estória.
Reféns pode não ter personagens tão bons, mas tem por trás deles um time de atores competentes, que fazem o melhor que podem com o que têm em mãos - e apesar da boa presença dos experientes Nicolas Cage e Nicole Kidman, além da interessante revelação Liana Liberato, quem mais desperta atenção é o ótimo Ben Mendelsohn, que ano passado desempenhou uma performance marcante no excelente Reino Animal, e que aqui se mostra muito interessante na composição do assaltante principal. O diretor Joel Schumacher, por sua vez, não exibe muita inspiração, embora aqui e ali eu tenha soltado um “Hmm, isso é bacana” ao apreciar algum ângulo ou condução de uma sequência realizada pelo cineasta. Mas só. O roteiro de Karl Gajdusek é que não obtém mesmo o sucesso. No final, não nos poupa nem de uma moralzinha barata. A família rica e desunida aprendeu a se valorizar mais, enquanto sua casa e seu dinheiro são torrados pelo fogo bem na frente deles.
caetanobcb's rating:


The Guard (2011)
Há dois princípios básicos para se fazer humor. O primeiro consiste no uso de uma situação inusitada que surge para um personagem comum com a finalidade de extrair dele qualquer reflexo cômico. O segundo é o exato oposto; usar um personagem que age de forma excêntrica, inusitada, em um cenário comum, a fim de conferir para toda uma situação um revestimento humorístico. Em O Guarda, nós basicamente temos o segundo caso; uma situação comum quase toda preenchida por personagens que existem em função do humor. Ainda assim, o filme não é todo risadas; ele também conta com personagens mais “normais” e ainda espera que nos toquemos com alguns aspectos de sua história, e assim apresenta elementos que claramente não pertencem às aspirações cômicas de seu roteiro. E embora o filme seja modesto e despretensioso, ele tenta demais, e por isso falha em sua totalidade, ainda que proporcione ocasionais bons momentos.
Muito semelhante ao genial misto de comédia e ação do diretor Edgar Wright, o inglês Chumbo Grosso, ainda que muito aquém da qualidade daquele (pela comédia e principalmente pela ação), O Guarda investe na parceria entre o sargento local Gerry Boyle, interpretado por um interessante Brendan Gleeson, com o agente do FBI Wendell Everett, encarnado pelo sempre bom Don Cheadle, quase da mesma forma que Chumbo Grosso apostava na dupla de policiais feita pelos atores Simon Pegg e Nick Frost. Enquanto no filme de Wright o personagem de Pegg se deslocava da grande Londres para o sinistro interior da Inglaterra, aqui é o agente feito por Don Cheadle que deixa os EUA para trabalhar em um caso de tráfico de drogas no interior da Irlanda. O parceiro da terra, que aqui, ao contrário de Chumbo Grosso, é o protagonista efetivo, recebe seu novo colega de uma forma não muito simpática a princípio, depositando a culpa na diferença cultural. E a esta altura, já sabemos algumas coisas sobre o sargento Boyle, já que é praticamente o primeiro personagem que vemos. Porém, ao mesmo tempo em que sabemos coisas sobre ele, continuamos sem saber quem ele realmente é.
Quando surge em cena pela primeira vez, demonstrando total indiferença para com um acidente fatal de carro que acontece bem na sua frente, Sargento Gerry Boyle é visto como um homem fatigado e entediado com suas rotinas policiais. E Brendan Gleeson faz um bom trabalho nessa primeira cena, manifestando as expressões do personagem de modo que percebamos a noção cômica de sua personalidade e como age diante de uma situação tão terrível, mas que apenas o aborrece e o descola algumas drogas. Às vezes carrancudo, às vezes inapropriado, outras esperto e outras apenas estúpido, Gerry Boyle lembra em alguns momentos os personagens que Ricky Gervais e Steve Carell interpretaram nas versões britânica e norte-americana, respectivamente, do seriado The Office. O policial parece possuir certa ignorância cultural, o que rende algumas observações preconceituosas de sua parte, seguidas por cenas de embaraço - típicas do seriado. Por outro lado, é realmente difícil ter uma noção nítida de sua personalidade, já que o roteiro parece nunca se resolver e definir o personagem ou se aprofundar mais em suas idiossincrasias. Até o final do filme, o Sargento Boyle é apenas um sujeito imprevisível, com diz um dos bandidos do filme. E nem mesmo o personagem de Cheadle parece saber, já que o desfecho do longa trata de repetir a seguinte fala sua: “Não consigo dizer se você é um filho da puta estúpido ou muito esperto”.
Tendo isso em vista, o filme parece amparar essa indefinição do personagem Boyle como algo a ser reconhecido positivamente pelo espectador. Nós o vemos em momentos dramáticos quando dialoga com a esposa de se seu recém falecido novo parceiro, e principalmente nas visitas que faz à sua mãe, que se encontra a poucas semanas de morrer. O núcleo que o roteiro destina às cenas de Boyle com sua mãe (que, aliás, é interpretada pela ótima Fionnula Flanagan) não funciona tão bem como deveria. O propósito, aparentemente, seria o de nos dar uma visão um pouco mais íntima do personagem, mais dramática e sensível. Contudo, tais cenas pouco nos diz sobre o sargento, sua personalidade, seu passado ou como tudo isso é relevante para a temática do filme, e acabam apenas por render momentos sentimentais fracos e algumas boas piadas isoladas. Por sua vez, a amizade entre Boyle e o agente do FBI não recebe tempo o suficiente para se desenvolver em tela, e a conexão entre os dois distintos policiais (sendo que o agente feito por Cheadle é um dos únicos do filme a não possuir traços cômicos) nunca é firmemente estabelecida, como sugere o final do filme, tendo o roteiro inclusive aproveitado a morte da mãe de Boyle para aproximar os dois personagens - um momento que soa tão artificial quanto genérico.
Mas apesar de sua equivocada abordagem dramática e a indefinição supostamente proposital de seu protagonista, O Guarda até que é um filme aproveitável e divertido em determinadas partes. Não só o Sargento Boyle oferece, apesar dos pesares, momentos engraçados, como muitos personagens menores do filme também. O humor de O Guarda gasta muito tempo caçoando de estereótipos. São ingleses, americanos, mexicanos, colombianos e os próprios irlandeses servindo com alvo de várias piadas; sem contar que cada personagem tem, sem aparente razão, ao menos um momento de estupidez, em que falam coisas sem muita inteligência e em troca aturam um silêncio constrangedor. As gags são isoladas, mas geralmente acertam e arrancam alguma risada (teve até uma velha e absolutamente isolada, ainda que eficiente, piada com o fato do carro Fusca ter o porta-malas na frente, e não atrás, como de costume); já algumas sequências são divertidas, como a que mostra em paralelo o dia de folga do Sargento Boyle e o dia de trabalho do agente Wendell, em que o primeiro se diverte com duas lindas e simpáticas prostitutas e o outro tenta, sem sucesso, falar com os moradores da cidade em busca de pistas que levem aos traficantes.
Ainda contando com as agradáveis presenças de Liam Cunningham e Mark Strong - este interpretando o enésimo vilão de sua carreira -, e também contando com uma embalada trilha sonora do grupo musical Calexico, O Guarda é, de início, um interessante pequeno filme, mas que no seu desenrolar demonstra uma profunda carência por consistência. Se o longa talhasse algumas de suas cenas, se entregasse mais ao humor, recolhesse algumas piadas isoladas e, principalmente, nos oferecesse um protagonista mais bem definido, é bem provável que sua semelhança com Chumbo Grosso não constaria apenas pela mera premissa.
Muito semelhante ao genial misto de comédia e ação do diretor Edgar Wright, o inglês Chumbo Grosso, ainda que muito aquém da qualidade daquele (pela comédia e principalmente pela ação), O Guarda investe na parceria entre o sargento local Gerry Boyle, interpretado por um interessante Brendan Gleeson, com o agente do FBI Wendell Everett, encarnado pelo sempre bom Don Cheadle, quase da mesma forma que Chumbo Grosso apostava na dupla de policiais feita pelos atores Simon Pegg e Nick Frost. Enquanto no filme de Wright o personagem de Pegg se deslocava da grande Londres para o sinistro interior da Inglaterra, aqui é o agente feito por Don Cheadle que deixa os EUA para trabalhar em um caso de tráfico de drogas no interior da Irlanda. O parceiro da terra, que aqui, ao contrário de Chumbo Grosso, é o protagonista efetivo, recebe seu novo colega de uma forma não muito simpática a princípio, depositando a culpa na diferença cultural. E a esta altura, já sabemos algumas coisas sobre o sargento Boyle, já que é praticamente o primeiro personagem que vemos. Porém, ao mesmo tempo em que sabemos coisas sobre ele, continuamos sem saber quem ele realmente é.
Quando surge em cena pela primeira vez, demonstrando total indiferença para com um acidente fatal de carro que acontece bem na sua frente, Sargento Gerry Boyle é visto como um homem fatigado e entediado com suas rotinas policiais. E Brendan Gleeson faz um bom trabalho nessa primeira cena, manifestando as expressões do personagem de modo que percebamos a noção cômica de sua personalidade e como age diante de uma situação tão terrível, mas que apenas o aborrece e o descola algumas drogas. Às vezes carrancudo, às vezes inapropriado, outras esperto e outras apenas estúpido, Gerry Boyle lembra em alguns momentos os personagens que Ricky Gervais e Steve Carell interpretaram nas versões britânica e norte-americana, respectivamente, do seriado The Office. O policial parece possuir certa ignorância cultural, o que rende algumas observações preconceituosas de sua parte, seguidas por cenas de embaraço - típicas do seriado. Por outro lado, é realmente difícil ter uma noção nítida de sua personalidade, já que o roteiro parece nunca se resolver e definir o personagem ou se aprofundar mais em suas idiossincrasias. Até o final do filme, o Sargento Boyle é apenas um sujeito imprevisível, com diz um dos bandidos do filme. E nem mesmo o personagem de Cheadle parece saber, já que o desfecho do longa trata de repetir a seguinte fala sua: “Não consigo dizer se você é um filho da puta estúpido ou muito esperto”.
Tendo isso em vista, o filme parece amparar essa indefinição do personagem Boyle como algo a ser reconhecido positivamente pelo espectador. Nós o vemos em momentos dramáticos quando dialoga com a esposa de se seu recém falecido novo parceiro, e principalmente nas visitas que faz à sua mãe, que se encontra a poucas semanas de morrer. O núcleo que o roteiro destina às cenas de Boyle com sua mãe (que, aliás, é interpretada pela ótima Fionnula Flanagan) não funciona tão bem como deveria. O propósito, aparentemente, seria o de nos dar uma visão um pouco mais íntima do personagem, mais dramática e sensível. Contudo, tais cenas pouco nos diz sobre o sargento, sua personalidade, seu passado ou como tudo isso é relevante para a temática do filme, e acabam apenas por render momentos sentimentais fracos e algumas boas piadas isoladas. Por sua vez, a amizade entre Boyle e o agente do FBI não recebe tempo o suficiente para se desenvolver em tela, e a conexão entre os dois distintos policiais (sendo que o agente feito por Cheadle é um dos únicos do filme a não possuir traços cômicos) nunca é firmemente estabelecida, como sugere o final do filme, tendo o roteiro inclusive aproveitado a morte da mãe de Boyle para aproximar os dois personagens - um momento que soa tão artificial quanto genérico.
Mas apesar de sua equivocada abordagem dramática e a indefinição supostamente proposital de seu protagonista, O Guarda até que é um filme aproveitável e divertido em determinadas partes. Não só o Sargento Boyle oferece, apesar dos pesares, momentos engraçados, como muitos personagens menores do filme também. O humor de O Guarda gasta muito tempo caçoando de estereótipos. São ingleses, americanos, mexicanos, colombianos e os próprios irlandeses servindo com alvo de várias piadas; sem contar que cada personagem tem, sem aparente razão, ao menos um momento de estupidez, em que falam coisas sem muita inteligência e em troca aturam um silêncio constrangedor. As gags são isoladas, mas geralmente acertam e arrancam alguma risada (teve até uma velha e absolutamente isolada, ainda que eficiente, piada com o fato do carro Fusca ter o porta-malas na frente, e não atrás, como de costume); já algumas sequências são divertidas, como a que mostra em paralelo o dia de folga do Sargento Boyle e o dia de trabalho do agente Wendell, em que o primeiro se diverte com duas lindas e simpáticas prostitutas e o outro tenta, sem sucesso, falar com os moradores da cidade em busca de pistas que levem aos traficantes.
Ainda contando com as agradáveis presenças de Liam Cunningham e Mark Strong - este interpretando o enésimo vilão de sua carreira -, e também contando com uma embalada trilha sonora do grupo musical Calexico, O Guarda é, de início, um interessante pequeno filme, mas que no seu desenrolar demonstra uma profunda carência por consistência. Se o longa talhasse algumas de suas cenas, se entregasse mais ao humor, recolhesse algumas piadas isoladas e, principalmente, nos oferecesse um protagonista mais bem definido, é bem provável que sua semelhança com Chumbo Grosso não constaria apenas pela mera premissa.
caetanobcb's rating:


Friends with Benefits (2011)
Depois de espancar os clichês na cara e abraçá-los sem desdenho no ótimo “Easy A”, e ainda ser responsável por criar, juntamente com a atriz Emma Stone, uma das protagonistas de comédia romântica mais carismáticas dos últimos tempos, o diretor Will Gluck mais uma vez surpreende com este “Friends with Benefits”, que, assim como em seu filme anterior, novamente pisa no perigoso terreno das comédias românticas modernas que negam os clichês para então abarcá-los sem muitas reservas. É uma tendência perigosa e traiçoeira muito repetida pelos filmes do gênero nos últimos anos, e que geralmente não produz bons resultados, apenas obras equivocadas e auto-indulgentes. Mas Will Gluck parece ter tato para a coisa. Ao contrário dos clichês amorosos e afins da vida de uma adolescente no colegial, que através da nostalgia refletia muitas obras oitentistas do gênero, “Friends with Benefits” funciona num plano mais universal e bem mais moderno - e é curioso o fato do diretor não descartar as intemporais convenções amorosas do cinema, porém surgir com uma nova dinâmica para as interações amorosas na vida real. Mila Kunis e Justin Timberlake são amigos com benefícios, e o benefício significa sexo. Eles são amigos, mas fazem sexo. É como jogar tênis; é uma mera atividade física, prazerosa, que todos desejam e que não deveria necessariamente passar pela burocracia de relações e sentimentos para poder acontecer. Depois de passarem por insatisfatórios relacionamentos, eles se conhecem, se curtem, e entram neste acordo. E a negação dos clichês, tanto cinematográficos (vide o momento anterior ao acordo, quando assistem e discutem um filme ridiculamente romântico) quanto sociais, começa a partir deste momento. Claro, como todo romance moderno que finge não ser clichê, mas que no fundo é, já prevemos qual será o rumo que a trama de “Friends with Benefits” irá tomar a partir dali. Mas devo ressaltar que, embora tome mais ou menos os caminhos que podem ser premeditados, o filme surpreende com cada etapa dessa trilha, e é extremamente convincente e sincero enquanto a percorre. Tudo que é visto no longa possui um senso de modernidade. Todos estão conectados pela tecnologia e por tendências culturais, como flashmobs e aparelhos de telefone de última geração, além de, mais do que nunca, estarem sintonizados com a cultura popular que os ronda. Mesmo assim, o filme arruma um modo de combinar tudo isso com os velhos truísmos amorosos, como, por exemplo, a jogada de se apresentar para o parceiro os pontos turísticos e emblemáticos de uma cidade com a finalidade de conquistá-lo (no filme a conquista tem propósito profissional, mas creio que todos imaginamos do que realmente se tratava), e eventualmente adotar o local como o elemento sorrateiro de uma tríade amorosa. Nova York - e um pouco também de Los Angeles - em “Friends...” é como Nova York nos filmes de Woody Allen, com a diferença de que aqui os personagens mais se encantam por apresentações de flashmob na Times Square e por terraços tranquilos onde não há sinal de celular. Em certo momento do filme, que emula um instante piegas do romance genérico que os personagens Dylan (Timberlake) e Jamie (Kunis) assistiram antes, o rapaz encontra a garota no terraço de um edifício. “Como?”, ela pergunta. Não porque Dylan sabe mais sobre ela do que ela própria sabe, com dito no filme que tinham visto. Mas porque seu celular não atendia, e lá era o único local sem recepção que ele conhecia e do qual ela gostava. O longa nos conduz pela etapa de sexo, a primeira, de forma frenética e engraçada. É o tipo de filme em que mais rimos com os personagens do que deles, já que são naturalmente engraçados um com outro, como amigos, modernos e espirituosos. A etapa mais dramática e sentimental, que surge quando se tornam verdadeiros amigos, soa real, e desperta emoções de ambos os lados, muito porque o roteiro escava com confiança as origens dos personagens através de seus familiares e faz com que isso seja decisivo para os dois. Ambos os atores, Kunis e Timberlake, estão excepcionais: convincentes, carismáticos e em sintonia com as alterações emocionais de seus personagens, ainda apresentam uma química indispensável. A resolução da trama, tão importante neste tipo de filme, é igualmente satisfatória, um desfecho feito do jeito clássico, porém com as aspirações modernas. Sexo? Amor? Nada! Que tal uma flexível amizade?
caetanobcb's rating:


“O Palhaço” parece trabalhar em cima do consenso de que não há nada mais triste do que um palhaço triste. Isso porque um palhaço não é um comediante propriamente dito. Ele faz humor, mas o faz muito mais pensando em alegrar seu espectador do que de fato conquistar suas gargalhadas. Pois há uma diferença. Eu, por exemplo, não aprecio o humor de um palhaço na mesma plenitude que uma criança tende a apreciar, entretanto não me oponho ao seu propósito humorístico e posso facilmente me simpatizar pela performance de um. Quem conhece um pouco de comédia sabe que nem sempre é preciso exaltar a alegria para produzir uma risada. Nós podemos facilmente rir de coisas fúnebres, críticas e até grosseiras; podemos rir da insignificância e estupidez humana, da morbidez do cotidiano, da desgraça alheia e do infeliz status-quo de nossas vidas - e é por isso que temos comediantes de sobra que investem exatamente nesse estilo mais negro do humor; logo, não há porque sustentar a ilusão de que se eles nos fazem rir, é porque devem ser pessoas alegres. Já o palhaço é diferente; ou pelo menos muitos pensam que sim, por sua própria natureza. O palhaço sempre tem um final feliz para suas anedotas; ele pode ser melancólico, malicioso e muito pateta, mas no fim acaba demonstrando sua inocência, seu otimismo e sua revigorante alegria. Para se colocar no centro do picadeiro, em um circo cheio de pessoas que esperam assistir algo alegre e engraçado, é preciso de muita destreza, de uma verdadeira transformação de espírito. Senton Mello encarna justamente esse tipo de palhaço no filme; um que é impecável em seu ofício, especialmente porque sua persona por trás de seu personagem circense é o completo oposto da alegria. Também diretor do filme, Mello constrói o protagonista Benjamin de uma forma particular e sensível. Os momentos de mais fala do personagem durante a trama ocorrem quando ele está na pele do palhaço Pangaré. Pois quando não está, Benjamin é um sujeito constantemente cabisbaixo, que parece mal-adaptado ao seu mundo, que pouco consegue articular suas emoções ou simplesmente desenvolver uma conversa fluída e que dure mais do que alguns minutos. O filme não se cansa de martelar o fato de que algo está errado com Benjamin. Sua mente vive frequentemente abstraída; ele apenas se preocupa com os problemas que precisa resolver; problemas que incluem a necessidade de arrumar um RG, um CPF e um comprovante de residência - e ainda se descobre obcecado com o desejo de possuir um ventilador, objeto que atua como metáfora do estado melancólico do palhaço. Ele parece querer experimentar um pouco da vida fora daquela rotina artística que é por vezes precária e ardida, parece querer descobrir-se, ou ter certeza de quem ele realmente é, para aí sim ser, de forma definitiva. Ao seu redor, temos personagens que também pouco desenvolvem qualquer conversa muito longa, porém não por alguma deficiência, mas simplesmente porque o filme decide retratá-los assim, de maneira sutil e subentendida. A narrativa, que muitas vezes lança mão de figuras engraçadas e peculiares, além de situações genuinamente cômicas, confere densidade a praticamente todos os personagens, por meio de pequenos momentos que se acumulam em cima de suas figuras e que desabrocham no final do filme de uma forma particularmente bela - e é especialmente nesse aspecto humano que a direção de Selton Mello impressiona, ao muitas vezes perdurar a câmera no semblante de seus personagens de uma forma pesada e profunda, a fim de capturar com exatidão o que sentem e o que anseiam. Benjamin, como protagonista, tem um foco maior. Sua partida em dado momento do filme sintetiza o modo como a obra procede: de forma sensível, sutil e silenciosa; silêncio que apenas permite a melancólica e espirituosa trilha sonora dizer alguma coisa. Honrando o compromisso humorístico do palhaço, o filme conclui sua grande anedota com um final feliz, otimista, revigorante e, o mais importante, autêntico ao drama sofrido e superado pelo interprete do palhaço Pangaré.
caetanobcb's rating:


Habemus Papam (2011)
“Habemus Papam” é certamente um filme curioso. Desinteressado em articular qualquer tipo de comentário sobre as controversas da Igreja Católica e sua inerente religiosidade em si, o diretor e também ator do filme Nanni Moretti prefere explorar as figuras de sua trama, os cardeais papáveis e o próprio Papa, de uma maneira mais humana, sem julgamentos e até bem humorada. Aliás, é sensato dizer que “Habemus Papam” funciona muito mais como uma comédia do que como um drama, embora nunca deixe de ser interessante a proposta do diretor em se abster das enredadas polêmicas religiosas que cercam o Vaticano e toda a Igreja e tratar seus personagens primariamente como indivíduos humanos. No entanto, o que seria uma oportunidade e tanto para abordar esse mundo sobre um outro prisma, acaba por se mostrar consideravelmente decepcionante, já que a narrativa do filme é desequilibrada, frágil e nunca se resolve. As gags que o diretor concebe, por exemplo, são impagáveis. Muito do humor do filme reside no fato de presenciarmos as figuras religiosas fazendo e dizendo coisas ou passando por situações incomuns que dificilmente as veríamos fazer/falar - e nesse sentido é de suma importância o cuidado com que o diretor emprega a inusitada comédia dentro do respeitado e sacrossanto Palácio do Vaticano, calibrando o absurdo com o moderado e jamais usando a profanação - uma vertente fácil para se produzir humor com esse tema - como catalisador do riso. O filme faz um bom uso do humor cotidiano e coletivo dos cardeais para dar forma à sua camada cômica. Embasando-se nas possibilidades cotidianas, por exemplo, Nanni Moretti cria hilários momentos como o que precede o conclave para a eleição de um novo Papa, quando um inesperado blecaute ocorre e os cardeais ficam sem luz e impossibilitados de acender velas, já que estas são proibidas no local; e também não deixa de registrar uma piada envolvendo a confusão dos repórteres de plantão na Praça São Pedro com a cor da fumaça responsável por comunicar a eleição de um novo Papa. Por sua vez, o humor coletivo é uma manifestação recorrente no filme, já que o roteiro não retrata nenhum dos cardeais de modo particularmente engraçado, embora cada um tenha sua personalidade bem definida. Em vez disso, o longa busca o que pode surgir de engraçado de suas interações, e assim consegue criar inusitados e lúdicos momentos de humor, entre eles os dois que se dão durante a votação - o das canetas e o do acumulo de pensamentos dos cardeais que suplicam para não serem os escolhidos para o cargo -; passando pela “sessão” de terapia do Papa; além das sequências onde os cardeais se embalam com a música que o suposto Pontífice estava ouvindo e em que participam do torneio de vôlei organizado pelo psicanalista responsável por tratar do novo Papa. Por falar no psicanalista, que é interpretado por Nanni Moretti, este é introduzido na trama para resolver o problema psicológico do recém eleito Papa, que desenvolve um repentino estado de depressão e insegurança após ser escolhido como novo representante da Igreja. O personagem de Moretti ajuda na construção de alguns momentos de humor, mas sua presença acaba perdendo o sentido inicial (além de carecer de um desfecho) - afinal, se sua confinação no Palácio do Vaticano era tão crucial, devido ao possível vazamento de segredos que ele poderia promover se fosse liberado, qual a razão ilógica (e muito mal explicada no filme, diga-se) de levar o Papa para se tratar com sua ex-mulher, que também é psicanalista? Só pode haver mesmo uma razão: conceder ao Papa Melville uma chance de sair do confinamento e fugir para uma viajem de descobrimento pela cidade de Roma, onde revive seus desejos pelo teatro e basicamente apenas anda, anda e anda pela cidade - algo que consome praticamente metade do filme e se mostra completamente artificial e ineficiente na tarefa de dramatizar a situação do Papa, embora o personagem ainda conquiste olhares cativados devido a ótima atuação de Michel Piccoli. Reforçando ainda mais a fragilidade com que executa o drama principal de sua narrativa, o desfecho não nos diz nada, apenas coloca um ponto final inócuo e inconcluso no que foi desenvolvido, ainda que pudesse ter mais impacto se todo o drama do filme fosse mais bem trabalhado e equilibrado com sua comédia. E mesmo que o intuito de todo o longa, tanto no aspecto cômico quanto no dramático, seja interessante e único, ele só compensa mesmo por um deles.
caetanobcb's rating:


30 Minutes or Less (2011)
É muito difícil se importar com um filme como “30 Minutes or Less” depois de assisti-lo. Não é o tipo de filme que permanece na sua memória. Na verdade, em certo ponto da narrativa, você até torce para que a trama do longa mova-se mais rápido para que tudo aquilo termine logo e você possa definitivamente esquecer o que viu. A comédia não é ofensiva, aborrecida e nem chega a ser tão terrível, mas as poucas risadas que produz não compensam por seu vazio, que se faz presente tanto durante quanto depois do filme acabar. “30 Minutes or Less”, apesar de tudo, possui um elenco bastante atraente: Jesse Eisenberg e seu estilo frenético de pronunciar falas é divertido à sua maneira; Aziz Ansari, por sua vez, é escalado em um papel ideal para sua persona cômica; bem como Danny McBride, que por sempre interpretar tipos impudicos e boçais conquistou a antipatia de muitas pessoas, mas é, sem dúvida, o melhor ator para representar um papel desse tipo. Ainda contando com a presença do sempre interessante Michael Peña, que aqui, no entanto, não surge tão divertido, o filme ao menos possui uma aparência bonita, um elenco chamativo. Mas mesmo que seus atores passem pelo teste de aprovação, seus personagens é que são difíceis de engolir. Todos eles, com exceção de um ou outro menos importante, são criminosos sem nuances, o que acaba suprimindo as chances de desenvolvermos qualquer simpatia por suas figuras. A dupla encarnada por Eisenberg e Ansari, os amigos Nick e Dwayne, a princípio, não são criminosos, mas eventualmente - e obrigatoriamente - se tornam como tais. E por incrível que pareça, a situação em que se encontram - forçados a assaltarem um banco para dois sujeitos que precisam de cem mil dólares - não isentam o rótulo negativo que assumem, uma vez que apesar de desesperados com a situação e teoricamente vítimas dela, até desenvolvem certo prazer ao executarem as inúmeras atividades criminosas ao longo do caminho. Eles não se sentem infortunados com a circunstância em que se metem mais do que se sentem determinados a cumprir a missão; ao mesmo tempo, também parecem não se importar com a discrição, já que são extravagantes e descuidados, e ao invés de usarem o limitado tempo que possuem para cumprirem a tarefa criminosa ou pensarem em um jeito de se safarem seguramente daquilo (sério, poderia imaginar muitas alternativas enquanto assistia), o gastam com coisas estúpidas como gritar na cara do chefe, se despedir da garota amada ou ainda se engajarem em intermináveis discussões triviais, que são obviamente inseridas no filme com a finalidade de parecerem engraçadas, ainda expondo a negligência e estupidez dos personagens como traços cômicos - algo que apenas arranca algumas risadas e ajuda a aumentar nossa descrença diante de suas figuras. A sequência mais engraçada de todo o filme, e que em tese seria a principal, mas que acaba não sendo, é o assalto ao banco. Para se roubar um lugar daqueles é preciso de estratégia, ou no mínimo experiência. Não é qualquer um que consegue se virar e assaltar um banco, e por isso a cena é engraçada, porque ali não eram suas personalidades tolas em ação, e sim inexperientes. Os arcos narrativos desenvolvidos pelo roteiro são todos rasos, mas para um filme de comédia deste naipe poderia muito bem render uma narrativa boa e conferir mais nuances aos personagens, mas isso não acontece em “30 Minutes or Less”. Nick gosta da irmã de seu amigo e quer ter um relacionamento com ela, porém Dwayne não aprova, mas ele, um professor substituto, aprova assaltar um banco com o parceiro sob a condição de que ele nunca mais veja ou fale com sua irmã (dá pra acreditar?!). O último ato do filme é o menos inspirado; vários conflitos são iniciados (alguns de forma forçada, como aquele entre o assassino feito por Peña e o personagem de McBride) e o desfecho se dá em um mesmo local, quando todos os personagens se reúnem (típico) e onde os supostos heróis (os vitimados pela situação) saem ganhando - a não ser por uma gag engraçadinha no final do filme que contraria isso. Funcionando apenas por uma ou outra piada e falhando em estabelecer qualquer simpatia entre personagens e espectador, de que outra forma “30 Minutes or Less” pode prestar?
caetanobcb's rating:


Conan O'Brien Can't Stop (2011)
Conan O’Brien é um cara extremamente cativante. Ele começou como um roteirista do humorístico Saturday Night Live, escrevendo e participando de pontuais esquetes do programa; passou três temporadas roteirizando para o seriado The Simpsons e finalmente substituiu David Letterman como apresentador do Late Night da NBC (o talk-show número dois da emissora) depois da aposentadoria do lendário Johnny Carson, que deu lugar a Jay Leno, para a insatisfação de Letterman que rumou direto para a CBS. Alto e de estranha aparência ruivo-irlandesa, O’Brien é um palhaço; ele efetua imitações de poucos segundos, emprega exagero ao emitir uma piada previsível e é ocasionalmente genial na composição de suas piadas e trocadilhos, além de colocar seu físico desconjuntado totalmente em prova ao desempenhar suas rotinas de humor físico e sua incessante sede por entreter - um conjunto de características que nas palavras de Conan O’Brien se reduzem apenas a “divertir”; conceito suficiente o bastante para conquistar o público médio, os entusiastas e profissionais da comédia e os críticos televisivos. Em “Conan O’Brien Can’t Stop” nós acompanhamos a jornada do comediante após deixar o Tonight Show, a mais conceituada franquia televisiva norte-americana que O’Brien conquistou de Jay Leno após quatro anos de espera, para perder em apenas cinco meses. Os arranjos de programação da emissora e a passividade de Leno fizeram com que Conan não aceitasse continuar à frente de seu bem-sucedido programa. Ao deixar a emissora, Conan recebeu cerca de 40 milhões de dólares - quantia que embora muito recompensadora financeiramente, parece não ter feito a diferença para o Conan artista, o Conan palhaço, aquele que não consegue parar, nem mesmo quando é contratualmente impedido de aparecer na televisão, rádio ou internet por sete meses. Sua solução? Aparecer ao vivo, para uma platéia, assim como fazia na televisão, com a diferença de que as únicas câmeras agora seriam as do público e a da equipe deste documentário, que nos confidencia O’Brien em momentos antes e depois do palco, nos dando breves vislumbres de seus shows e principalmente de seus momentos íntimos com sua equipe de roteiristas, seu companheiro de performances Andy Richter e sua assistente Sona Movsesian. Rodman Flender, o diretor do filme, bem como o próprio O’Brien, deixam as coisas transparentes, francas. Conan não se acanha diante da presença íntima da câmera, e Flender não hesita em registrar, por exemplo, a insatisfação do protagonista com a exaustiva atenção que insiste em dar aos fãs (tanto antes quanto depois de seus já exaustivos shows); incômodo que em alguns momentos leva o comediante a culpar sua equipe por permitir tantas pessoas em seu camarim, enquanto noutros o leva a revelar sua própria natureza atenciosa para aqueles que o prestigiam, insistindo, por exemplo, em saldar os fãs e conceder alguns autógrafos mesmo quando aconselhado a não fazer isso e no fundo pouco disposto para tal atividade. Apesar de tudo isso, o Conan O’Brien que vemos neste documentário jamais deixa de ser aquele cara extremamente cativante de quem falei acima; ele é naturalmente engraçado com aqueles ao seu redor; quando faz exigências ou demonstra insatisfação com algo, o faz de forma engraçada, irônica, tirando sarro, contando uma piada - mesmo que seja notável a diferença entre o Conan no palco e o Conan nos bastidores, permitindo assim com que enxerguemos uma figura humana e por isso mesmo ainda mais fascinante do que costuma ser quando vista dos palcos ou da televisão. Conan O’Brien possui uma qualidade que corre em suas veias: a de fazer aquilo que gosta, para grandes públicos ou pequenos públicos. Ele sente a necessidade de organizar tudo aquilo que naturalmente vibra em sua pessoa e transmitir - seja na forma de shows ao vivo, esquetes, episódios, entrevistas ou monólogos de talk-shows - aquilo que podemos facilmente identificar em sua essência: a diversão. Uma que conquista a todos, e que faz de O’Brien um artista indispensável e que por isso mesmo não pode, nunca, parar.
caetanobcb's rating:


Larry Crowne (2011)
Além de Jim Carrey, não há outro ator mais afável, carismático e simpático do que Tom Hanks. Ele é um verdadeiro conquistador, ele pode cativar o espectador como poucos, não importa o personagem que represente. Em filmes ruins ou abaixo da média, a presença de atores como Carrey e Hanks acabam se revelando compensatórias apesar da má qualidade de toda a obra; e quando se envolvem em produções boas, geralmente são os maiores responsáveis pelo sucesso delas. “Larry Crowne”, filme protagonizado, co-escrito e dirigido por Hanks, é um longa abaixo da média. Mas a presença de Hanks no papel do personagem título faz a diferença, transformando o que era pra ser um filme ruim e aborrecido em algo ao menos simpático, ainda que, sem dúvidas, ruim. Todo o filme gira em torno de pessoas boas, com alguns problemas momentâneos em suas vidas. Seus problemas são comuns: Larry, o protagonista, é demitido de uma loja de departamentos após anos de trabalho diligente, apenas porque não possuía uma graduação, o que o força a reaver sua vida financeira e ingressar em um curso superior. Sua professora, interpretada por Julia Roberts, oscila entre expressões de tédio e desgosto, tanto diante de sua classe de oratória quanto em casa, onde atura um casamento insatisfatório com um escritor/blogueiro que passa as tardes apreciando pornografia no computador. Seus problemas são universais, comuns, e isso já deveria ser o bastante para nos identificarmos com eles em algum grau; são também problemas consertáveis, como o filme nos faz acreditar. É basicamente uma história sobre mudanças e aprimoramentos que fazemos (individual ou em conjunto) para que possamos seguir em frente de uma maneira melhor. Não à toa, o longa assume um tom leve e cômico, que realmente não se esforça para que possamos enxergar seus personagens para além do que meramente são diante das câmeras - todos são bons, simpáticos e bem humorados, e isso, para o filme, é julgado com o bastante. Por outro lado, o longa se esforça para arrancar risadas de pequenos momentos constrangedores que se revelam tão fracos e sem inspiração que causam mais vergonha em quem assiste do que nos próprios personagens. Da mesma forma, a boba tensão criada entre Crowne e o namorado de sua nova amiga de classe serve apenas ao propósito cômico, embora inicialmente dê indícios de que poderá ser mais do que isso, apenas para o filme executar uma reviravolta convencional e aproximar Crowne de sua professora, que imediatamente se apaixonam - não porque faz sentido, apenas porque Tom Hanks e Julia Roberts não poderiam terminar o filme sem ficarem juntos e se revelarem como a solução para o problema do outro; e porque não há espaço para maldade no filme, de modo que todo o casinho que ele poderia ter com sua amiga seja resolvido no bom humor. A narrativa de “Larry Crowne”, além de convencional, ainda se mostra incrivelmente burocrática: é só notarmos, por exemplo, como o filme organiza as aulas de oratória da personagem de Roberts e as de economia do personagem de Takei viciosamente, nunca encontrando outro espaço para desenvolver seus personagens, mesmo que boa parte das cenas nas aulas de economia sejam dispensáveis e valham apenas por algumas piadinhas. Carismático Hanks é, a ponto até de compensar pela falta de carisma da personagem superficial de Roberts. Aliás, pode-se dizer com segurança que todos os personagens de “Larry Crowne” são superficiais, e o filme parece se contentar com isso. É por isso que escalar (ou se auto-escalar, neste caso) Hanks em um filme como este é certeiro para que possamos aturar essa obra esquecível e ao menos dizer: “Olha, como Tom Hanks é simpático e divertido. Adoro esse cara!”.
caetanobcb's rating:


Os Smurfs são criaturinhas adoráveis que possuem um mundo próprio. Um mundo repleto de azul, um elemento de cor do nosso mundo, que para essas mágicas criaturas é o grande elemento, a quintessência que define o tom de suas peles e o tom de todo o resto de seu universo, sem falar que “azul” é também uma palavra de significado vago (um verbo e também um adjetivo) presente em praticamente todas as frases que pronunciam. Dito isso, a possibilidade de integrar tais criaturas (no filme animadas por computador) em nosso mundo (com figuras em carne e osso) é fascinante, pois revela um interessante conjunto de gags e trocadilhos pra serem trabalhados, e a quase alienígena experiência de receber criaturas tão mágicas e inconcebíveis em nosso lar, no mundo real. E é curioso como o filme trabalha isso, de fato estabelecendo um mundo real ao inserir os personagens Smurfs em uma realidade onde eles realmente são figuras fictícias criadas por Peyo. Além disso, o filme lança mão de muitos anúncios publicitários, e o diretor os usa de modo esperto a fim de criar algumas gags engraçadas, como quando os Smurfs se colocam em frente de um anuncio de um show do Blue Man Group, ou quando são visto à frente de um anuncio de Blu-rays. Outras vezes, porém, a publicidade é somente gratuita, embora possa reforçar a “realidade” de mundo - como quando uma peça de videogame da marca Yamaha é exibida em uma montagem musical igualmente gratuita. O choque entre as criaturas Smurfs e as criaturas de nossa realidade permanece interessante por algum tempo, mas se dilui rapidamente, pois este não é um filme interessado em mudar a maneira como longas do tipo são feitos. “The Smurfs” quer apenas ser um filme, como qualquer outro do gênero, mas um com Smurfs entre seus personagens. Portanto, tudo o que nos resta são as personalidades de cada Smurf e as piadas extraídas disso. Cada um deles possui uma personalidade definida, e que também os dá nome. (Eles são nomeados assim que nascem ou conforme suas características depois que crescem? Alguém de fato faz essa pergunta no filme, mas nós não recebemos a resposta, pois seria ainda mais inconsequente se questões tão mitológicas fossem exploradas, embora talvez pudesse render um filme mais interessante). Nós também temos dois protagonistas humanos que acidentalmente assumem a responsabilidade pelos Smurfs, conforme as criaturas fazem de suas vidas uma loucura mas também algo mais doce. O paralelo criado entre o Papai Smurf e o futuro papai do filme (Patrick Harris) é tão óbvio que resulta apenas em cenas piegas e num desenvolvimento frouxo dos personagens humanos. Enquanto “The Smurfs” dispõe de inúmeros conflitos convencionais, ao mesmo tempo carece dos mesmos conflitos, uma vez que estes já nascem tão gastos que nós podemos facilmente deduzir suas resoluções, e portanto dificilmente virarmos nossa atenção para suas qualidades “conflitantes”. Ignorando completamente este fator, tudo o que sobra são as pequenas piadas, gags visuais e a maior coisa que salva o longa do total aborrecimento: seu vilão, o feiticeiro Gargamel. Enquanto não confere a Gargamel nenhum senso de profundidade ou razão por trás de seus atos vilanescos contra os Smurfs, o filme sobrepõe esse defeito ao caçoar do vilão e meramente assumir que ele é o vilão e ponto final. Mas é mesmo a impressionante e incrivelmente divertida e engraçada composição de Gargamel pelo ator Hank Azaria que faz cada cena com o personagem valer a pena, embora toda as sequências dedicadas à figura soem mais como um “vamos-mostrar-o-que-o-vilão-está-fazendo-por-alguns-segundos”. No entanto, é também justo conceder créditos ao roteiro no sentido de permitir ao personagem ser ridiculamente malvado, consciente de suas imperfeições e ao mesmo tempo muito ingênuo diante delas, além de eventualmente se tornar a base de muitas boas piadas. Entre algumas banais sequências de ação e uma narrativa deplorável, “The Smurfs” ajuda a perpetuar o tipo de filme que é: comum, não inventivo e que apenas vale em diminutos e isolados momentos. Mas os Smurfs são adoráveis; eles são azuis e agem de forma doce. E é esse tipo de coisa que os realizadores do filme sabem que o público engolirá; e assim eles fazem não um filme com erros, mas um filme naturalmente errado, porque eles pensam que um filme banal recheado de Smurfs é o suficiente - e eles estão certos, de certa maneira.
caetanobcb's rating:


Margin Call (2011)
Margin Call - O Dia Antes do Fim, assim como o subtítulo nacional já anuncia, desenvolve sua narrativa a 24 horas da crise econômica de 2008 explodir para todo o mundo. O longa nos situa dentro de um banco de investimentos financeiros claramente inspirado no Lehman Brothers, uma das principais empresas bancárias a ser afetada pela crise na época. Assim sendo, o filme não nos oferece a explosão; retém-se a um dia dela e nos confidencia a implosão, aquela que se deu primeiro e que afetou internamente os responsáveis por causá-la.
A narrativa de Margin Call é uma grande ironia de efeito moralizante - isso se as figuras aqui retratadas realmente fossem moralizadas pelo ocorrido. No início, os personagens se dão conta de que uma irremediável turbulência está por vir. O roteiro do estreante e também diretor do filme J.C. Chandor sabe como ser eficiente com palavrões. “Fuck”, “fuck”, “fucking” é basicamente tudo o que as reações de seus engravatados personagens produzem. Os xingamentos são proféticos. Mais ainda, uma observação do personagem de Zachary Quinto, que interpreta aqui um inteligente analista responsável por descobrir o podre nos ativos da empresa: “Elas (pessoas) não fazem ideia do que está para acontecer.”
Semelhante é a forma como o roteiro de Chandor opera. Nos diálogos, ele prefere empregar palavrões e linguagens diretas em detrimento do economês e outros jargões. Isso não é como Wall Street, de Oliver Stone, ou como algum roteiro de Aaron Sorkin. Margin Call está mais interessado na carniça do que nas tecnicidades que levaram a ela. Isso porque mesmo a 24 horas do alastramento da crise, ela já havia dominado o sistema financeiro há semanas, como aponta um dos personagens - só bastava perceberem. Além disso, as trocas de diálogos e as explicações sumárias ainda servem ao propósito de pintar o estereótipo dos personagens, ressaltando o distanciamento que cada um tem da essência técnica do que os cercam. Pois sim, eles são um estereótipo; não se inibem em dizer que estão lá por meio da malicia, da ambição, ao invés da inteligência e do profundo conhecimento técnico do negócio. São homens de Wall Street: ricos, gananciosos, individualistas, cinicamente francos e cordialmente falsos.
No entanto, é justamente explorando o estereótipo dos colarinhos brancos que o diretor J.C. Chandor efetua a proeza de conferir aos personagens maiores dimensões; humanizando-os sem eximi-los daquilo que seus empregos os fazem. A postura de seus personagens, aliás, é até mesmo passível de estudo. São todos conscientes do que boa parte da sociedade acha deles, mas ainda possuem suas próprias razões, seus próprios fundamentos morais que os auxiliam na justificativa do que fazem, além da simples, revoltante e suficiente explicação que todos possuem para isso: a ganância.
Fortificando seus personagens, Margin Call ainda recorre a um elenco repleto de nomes de peso, bem como de presenças menores que se revelam incrivelmente eficientes para as pretensões do filme. A começar por Stanley Tucci, que dá vida a um suave, quase carismático analista de riscos demitido logo no início do filme; passando por seus dois assistentes, o esperto e dedicado Peter Sullivan (o segundo papel no cinema do ator Zachary Quinto e mais um em que este demonstra seu potencial), e o jovem Seth (Penn Badgley), um garoto que consegue se realçar como uma figura fútil em meio a um mundo de futilidades apenas pelo cunho de suas conversas, que basicamente se resumem a perguntas sobre o quanto as outras pessoas fazem de dinheiro. Ao passo que Kevin Spacey dá vida ao personagem mais tridimensional do filme, Sam, chefe da equipe de negociantes que sequer sabe o nome de seus subordinados, e que se isola conscientemente de tudo para o seu próprio ganho individual. Ainda contando com Paul Bettany, que exibe uma divertida e notável presença de cena, a ótima Demi Moore e Simon Baker, vivendo um frio executivo de alto escalão, o filme fecha o elenco com a presença intimidante de um incrível Jeremy Irons, o CEO da empresa.
É interessante como Margin Call distribui o peso de seus personagens de modo a corresponder com o peso de seus atores. Dentro da empresa, cada um é chefe de um, e todos retém uma grande parcela de autoridade diante de tudo que é decidido. Ao descobrirem o problema com ao ativos, que haviam se excedido, o alerta sobre a situação sobe gradualmente, chegando a Will (Bettany), em seguida ao conhecimento de Sam, e logo atingindo o prodígio executivo feito por Simon Baker (alvo de inveja de muitos personagens), até eventualmente chegar ao andar de cima, nas mãos do CEO interpretado por Jeremy Irons, que aterrissa no prédio da empresa de helicóptero.
Dentro dessa dinâmica, o filme desenvolve as relações dos personagens de uma forma determinante para o modo como tudo acontece. Todos visam o ganho pessoal. “Depois de tudo dito e feito, eles não perdem dinheiro. Não ligam se todos perdem, mas eles não”, diz o personagem de Bettany em certo momento. Em outro, o mesmo personagem deixa claro para seu superior que estará ao lado de Sam (a essa altura relutante quanto a ideia de vender os ativos da empresa) em qualquer posição que este tomar. Aqui, a diferença entre distanciamento e proximidade de um membro da empresa para o outro fala mais alto que os riscos e benefícios de uma decisão de negócios.
O roteiro esboça tais dilemas durante o período ininterrupto de tempo em que seus personagens permanecem confinados na sede do banco. Essencialmente fundamentado por diálogos, o filme trabalha metodicamente em cima de cenas em que os personagens discutem um com o outro, por entre as salas da empresa, revirando no meio de todo o imbróglio históricos interpessoais dos quais não temos conhecimento, mas que garantem às suas relações um senso de profundidade. Cada diálogo, cada discussão é efetuada com gravidade e urgência pelas atuações e pela direção de J.C. Chandor.
Em contrapartida aos dilemas e à dinâmica entre os personagens, no entanto, o filme reafirma a imobilização (voluntária ou não) dos homens de Wall Street diante da presença perene do dinheiro em suas vidas - como pode ser constatado a poucos minutos do final da narrativa, quando Sam, mesmo pedindo as contas para o CEO, se dá por convencido e permanece na empresa, declarando que “precisava do dinheiro”.
Sam pode ser considerado o centro narrativo de Margin Call (assim ressaltado pela presença do personagem no significativo desfecho do longa), embora o filme sugira no início que este personagem é Peter. No entanto, a relevância dramática de praticamente todos os personagens se confunde e a cada um deles é conferido um rascunho nítido e realista do que naturalmente são e almejam e o que a situação econômica que o mundo estava prestes a enfrentar significava primeiramente e individualmente para eles.
Eles eram colegas de trabalho; alguns deles eram até amigos. Durante o filme eles são sensibilizados, mas não exatamente pela parcela de culpa que tinham nos danos que estavam sendo causados ao mundo, e sim pela quantidade de dinheiro que poderiam perder e o quanto isso poderia prejudicar suas carreiras. No final, tudo se trata de dinheiro. Mas Margin Call, na humanização que injeta em seus personagens, nos lembra que estes são homens com sentimentos e razões perante tudo o que fazem, ainda que não deixem de parecer insensíveis e entorpecidos pela rotina corporativa que consumiu suas vidas e danificou a de tantos outros.
A narrativa de Margin Call é uma grande ironia de efeito moralizante - isso se as figuras aqui retratadas realmente fossem moralizadas pelo ocorrido. No início, os personagens se dão conta de que uma irremediável turbulência está por vir. O roteiro do estreante e também diretor do filme J.C. Chandor sabe como ser eficiente com palavrões. “Fuck”, “fuck”, “fucking” é basicamente tudo o que as reações de seus engravatados personagens produzem. Os xingamentos são proféticos. Mais ainda, uma observação do personagem de Zachary Quinto, que interpreta aqui um inteligente analista responsável por descobrir o podre nos ativos da empresa: “Elas (pessoas) não fazem ideia do que está para acontecer.”
Semelhante é a forma como o roteiro de Chandor opera. Nos diálogos, ele prefere empregar palavrões e linguagens diretas em detrimento do economês e outros jargões. Isso não é como Wall Street, de Oliver Stone, ou como algum roteiro de Aaron Sorkin. Margin Call está mais interessado na carniça do que nas tecnicidades que levaram a ela. Isso porque mesmo a 24 horas do alastramento da crise, ela já havia dominado o sistema financeiro há semanas, como aponta um dos personagens - só bastava perceberem. Além disso, as trocas de diálogos e as explicações sumárias ainda servem ao propósito de pintar o estereótipo dos personagens, ressaltando o distanciamento que cada um tem da essência técnica do que os cercam. Pois sim, eles são um estereótipo; não se inibem em dizer que estão lá por meio da malicia, da ambição, ao invés da inteligência e do profundo conhecimento técnico do negócio. São homens de Wall Street: ricos, gananciosos, individualistas, cinicamente francos e cordialmente falsos.
No entanto, é justamente explorando o estereótipo dos colarinhos brancos que o diretor J.C. Chandor efetua a proeza de conferir aos personagens maiores dimensões; humanizando-os sem eximi-los daquilo que seus empregos os fazem. A postura de seus personagens, aliás, é até mesmo passível de estudo. São todos conscientes do que boa parte da sociedade acha deles, mas ainda possuem suas próprias razões, seus próprios fundamentos morais que os auxiliam na justificativa do que fazem, além da simples, revoltante e suficiente explicação que todos possuem para isso: a ganância.
Fortificando seus personagens, Margin Call ainda recorre a um elenco repleto de nomes de peso, bem como de presenças menores que se revelam incrivelmente eficientes para as pretensões do filme. A começar por Stanley Tucci, que dá vida a um suave, quase carismático analista de riscos demitido logo no início do filme; passando por seus dois assistentes, o esperto e dedicado Peter Sullivan (o segundo papel no cinema do ator Zachary Quinto e mais um em que este demonstra seu potencial), e o jovem Seth (Penn Badgley), um garoto que consegue se realçar como uma figura fútil em meio a um mundo de futilidades apenas pelo cunho de suas conversas, que basicamente se resumem a perguntas sobre o quanto as outras pessoas fazem de dinheiro. Ao passo que Kevin Spacey dá vida ao personagem mais tridimensional do filme, Sam, chefe da equipe de negociantes que sequer sabe o nome de seus subordinados, e que se isola conscientemente de tudo para o seu próprio ganho individual. Ainda contando com Paul Bettany, que exibe uma divertida e notável presença de cena, a ótima Demi Moore e Simon Baker, vivendo um frio executivo de alto escalão, o filme fecha o elenco com a presença intimidante de um incrível Jeremy Irons, o CEO da empresa.
É interessante como Margin Call distribui o peso de seus personagens de modo a corresponder com o peso de seus atores. Dentro da empresa, cada um é chefe de um, e todos retém uma grande parcela de autoridade diante de tudo que é decidido. Ao descobrirem o problema com ao ativos, que haviam se excedido, o alerta sobre a situação sobe gradualmente, chegando a Will (Bettany), em seguida ao conhecimento de Sam, e logo atingindo o prodígio executivo feito por Simon Baker (alvo de inveja de muitos personagens), até eventualmente chegar ao andar de cima, nas mãos do CEO interpretado por Jeremy Irons, que aterrissa no prédio da empresa de helicóptero.
Dentro dessa dinâmica, o filme desenvolve as relações dos personagens de uma forma determinante para o modo como tudo acontece. Todos visam o ganho pessoal. “Depois de tudo dito e feito, eles não perdem dinheiro. Não ligam se todos perdem, mas eles não”, diz o personagem de Bettany em certo momento. Em outro, o mesmo personagem deixa claro para seu superior que estará ao lado de Sam (a essa altura relutante quanto a ideia de vender os ativos da empresa) em qualquer posição que este tomar. Aqui, a diferença entre distanciamento e proximidade de um membro da empresa para o outro fala mais alto que os riscos e benefícios de uma decisão de negócios.
O roteiro esboça tais dilemas durante o período ininterrupto de tempo em que seus personagens permanecem confinados na sede do banco. Essencialmente fundamentado por diálogos, o filme trabalha metodicamente em cima de cenas em que os personagens discutem um com o outro, por entre as salas da empresa, revirando no meio de todo o imbróglio históricos interpessoais dos quais não temos conhecimento, mas que garantem às suas relações um senso de profundidade. Cada diálogo, cada discussão é efetuada com gravidade e urgência pelas atuações e pela direção de J.C. Chandor.
Em contrapartida aos dilemas e à dinâmica entre os personagens, no entanto, o filme reafirma a imobilização (voluntária ou não) dos homens de Wall Street diante da presença perene do dinheiro em suas vidas - como pode ser constatado a poucos minutos do final da narrativa, quando Sam, mesmo pedindo as contas para o CEO, se dá por convencido e permanece na empresa, declarando que “precisava do dinheiro”.
Sam pode ser considerado o centro narrativo de Margin Call (assim ressaltado pela presença do personagem no significativo desfecho do longa), embora o filme sugira no início que este personagem é Peter. No entanto, a relevância dramática de praticamente todos os personagens se confunde e a cada um deles é conferido um rascunho nítido e realista do que naturalmente são e almejam e o que a situação econômica que o mundo estava prestes a enfrentar significava primeiramente e individualmente para eles.
Eles eram colegas de trabalho; alguns deles eram até amigos. Durante o filme eles são sensibilizados, mas não exatamente pela parcela de culpa que tinham nos danos que estavam sendo causados ao mundo, e sim pela quantidade de dinheiro que poderiam perder e o quanto isso poderia prejudicar suas carreiras. No final, tudo se trata de dinheiro. Mas Margin Call, na humanização que injeta em seus personagens, nos lembra que estes são homens com sentimentos e razões perante tudo o que fazem, ainda que não deixem de parecer insensíveis e entorpecidos pela rotina corporativa que consumiu suas vidas e danificou a de tantos outros.
caetanobcb's rating:


Take Me Home Tonight (2011)
Assistir a “Take Me Home Tonight” é com assistir a uma folha de papel ser impressa em outra folha por meio de papel carbono: a impressão nunca é perfeita, embora seja mais do que justo ressaltar que um papel químico oferece um desempenho muito mais satisfatório do que este filme do diretor Michael Dowse. Se revelando como uma comédia sem graça que limita seu humor ao comportamento estúpido de seus personagens e a situações manjadas, o longa ainda tenta se lançar como um drama - algo que nunca é equilibrado de forma destra e que, reforçando a analogia, é também como um papel carbono, copiando de outros filmes coisas que já vimos antes, só que de uma forma totalmente precária e que, em detrimento das reações e emoções que o filme deseja despertar no espectador, apenas se faz constrangedor e desprezível. O principal lema que a trama de “Take Me Home Tonight” tenta colar é a de que devemos fazer e não pensar. Tal sentença deriva do problema de seus personagens, todos estagnados em vidinhas que não lhes apetecem ou orgulham, embora ainda se confortem com elas, por medo de “fazer”, quando preferem “pensar”. Na verdade, o que o filme nos mostra é algo completamente oposto a isto, fazendo da relação entre personagens e temática incongruente: eles são estúpidos, agem por impulso e não parecem ter noção do peso de suas ações. Para o roteiro, a mentira que o protagonista conta para sua paixonite dos idos tempos de colegial, a fim de ganhar seu interesse, é o maior sinal de fraqueza possível. Pense comigo: o protagonista vivido por Topher Grace, Matt, rouba um carro com seu amigo para que pudesse impressionar sua paquera (até se vangloriando do ato pouco depois), mas quando deve revelar a ela algo importante sobre si mesmo, após o consumado sexo, ele apenas confessa que trabalha em uma locadora de vídeos e não na Goldman Sachs, como tinha antes afirmado. A garota se sente ofendida, reagindo da forma mais mecânica e clichê possível, contestando sua honestidade. Ao final, Matt tenta provar sua virilidade e sua coragem ao fazer algo que põe sua vida em risco, e quando sai ileso da situação também se vangloria daquilo, para a aprovação da garota, que levando em conta seu pedido de piedade em forma de discurso clichê pouco antes da execução do ato de tolice, acaba perdoando-o e dando a ele seu número de telefone. Mesmo se achando tão boa para perdoar logo de cara alguém que mente sobre sua profissão, e mesmo tendo um gosto por demonstrações de valor idiotas, a garota de Matt deixaria mesmo passar a questão do carro roubado? Talvez sim, já que até o pai do protagonista - e policial - não repreende tanto o garoto, incentivando-o a fazer mais coisas impulsivas. É muito provável que “Take Me Home Tonight”, ao investir tanto nas loucuras desproporcionais de seus personagens, queira apenas arrancar algumas risadas. Personagens fazendo coisas tolas e estúpidas só pra ganharem nosso riso é um golpe muito baixo, mas que funciona quando a estupidez é tratada como algo patológico, como parte consistente de uma personalidade, ou ao menos quando é dado um bom motivo externo para ela se manifestar. Mas aqui isso não acontece: o personagem de Dan Fogler parece ser impetuoso e irracional apenas porque sua persona cômica muito lembra a de Zach Galifianakis: suas tolices nunca convencem, e o personagem não encontra um eixo na trama; existe apenas pela finalidade de nos oferecer um humor mais “ousado”, mas que só oferece situações cômicas batidas e reproduzidas no filme de forma totalmente gratuita - como seu envolvimento com drogas, uma disputa de dança e um sexo a três. Ainda se revelando pontualmente constrangedor (como na expectativa construída em torno do beijo entre o protagonista e a mocinha) e absolutamente piegas em suas cenas mais dramáticas (vide o próprio drama de Matt e de sua irmã), “Take Me Home Tonight” é um desastre repetitivo, clichê, inconsistente e que se distingue apenas por uma coisa: em vez de oferecer uma resolução para o arco dos personagens que por pior que seja ao menos trate de “consertá-los”, prefere exaltar e perpetuar a estupidez deles como resolução de seus problemas - ignorando que a estupidez é a própria causa dos piores comportamentos que os personagens têm durante o filme.
caetanobcb's rating:


Green Lantern (2011)
Os Lanternas Verdes são icônicos; possuem símbolos, totens, uniformes, valores e estão por todos os lugares, por todo o universo, compreendendo toda a bizarra coleção de criaturas intergalácticas concebidas pela mente de seus criadores. Basicamente, os Lanternas Verdes são um produto de propaganda, que tenta convencer e que raramente recompensa com algo de valor. Em “Green Lantern”, o filme, tudo o que nós vemos é a divulgação, o básico, o plano. As complexidades do universo revestido pelos Lanternas Verdes - estas sim, interessantes em conceito e que já renderam boas histórias em outras mídias -, são rebaixadas ao geral, ao convencional, ao puramente introdutório, com todos os seus dizeres morais e a veneração em torno de seus símbolos, descartando absolutamente aquilo que realmente envolve e torna este universo decente e interessante. Hal Jordan, o Lanterna Verde humano, possui todo o charme e o carisma de seu interprete, o engraçado Ryan Reynolds, que aqui se esforça ao máximo para tornar o personagem no mínimo agradável, vertendo para o lado cômico e ingênuo que ao menos rende algumas risadas. Pois Hal é aquele herói com embalagem bonita (musculoso, sedutor) e morais e sentimentos arranhados. O roteiro, ao moldar as sementes dramáticas do personagem, opta pelo genérico. Quando criança, Hal viu seu pai morrer na explosão de sua aeronave. Anos mais tarde, o garoto é também um piloto, mas um imprudente, irresponsável e, sem que todos possam notar, medroso. Isso, claro, vai de encontro com todo o compromisso exigido pelo anel, que enxergando neste ser humano imperfeito algo de aproveitável, o escolhe como primeiro Lanterna Verde da Terra. Tudo o que acontece adiante é fácil de presumir. Para um filme que lida com uma mitologia tão fantástica, repleta de conceitos a serem introduzidos, entendidos e desenvolvidos, “Green Lantern” é um longa demasiadamente comum, batido, convencional. Os diálogos são encomendados em forma de discursos morais, por mínimos que sejam. As intempéries do personagem se rendem a ocorrências formulaicas e clichês. E enquanto isso tudo se desenvolve, Hal Jordan tem de resolver sua crise interna, um duelo pessoal entre a vontade e o medo (inspirado pela ideologia do compromisso que lhe fora designado), e decidir mudar, para eventualmente salvar o mundo. Não, o universo inteiro. “Green Lantern” tem um vilão. Este é uma entidade cósmica chamada Parallax, que se alimenta do medo de todos os seres do universo, assim como a energia verde se alimenta da vontade dos mesmos. Mas é claro que, embora esta curiosa entidade seja a essência maléfica de toda a narrativa, um filme formulaico como este não poderia recusar um vilão terreno, unidimensional e caricato como o nerd incompreendido pelo pai que é infectado pela energia amarela de Parallax e se transforma numa aberração patética e risível - que logo é aniquilada sem ressentimentos. Em certo momento de “Green Lantern”, Hal Jordan, depois de resolver seus problemas internos na Terra, volta para o lar dos Lanternas a fim de convencê-los de como lutar contra a energia que os ameaça. Para isso, o protagonista profere um discurso aparentemente humilde e corajoso, mas que não deixa de soar arrogante e egocêntrico, como se as particularidades humanas de Hal oferecessem toda a perícia e aptidão moral necessária para combater a ameaça mor do universo. Há, aqui, um esforço do roteiro em defender, ainda que de modo recatado, a importância humana, no intuito de conferir a Hal uma saliência maior frente a todas as outras criaturas do universo. Não me surpreende que um dos motivos maiores do filme seja ser categórico, básico e simplista. Vontade versus medo; tudo se resume a isso. Disso é extraído a cura para os problemas do protagonista e para os de todo o universo. Eu sinto como se o filme quisesse me vender ideias batidas em um pacote interessante e sedutor, como nas propagandas. “Green Lantern” (o filme, em específico), afinal, não convence, e tampouco recompensa pelo aborrecimento alastrado por sua narrativa e o vazio deixado por seu final. É, como muitos produtos, absolutamente descartável.
caetanobcb's rating:


The Help (2011)
“The Help” é um filme sobre a segregação racial em Mississipi, nos EUA, durante os anos 60. De fato, existe um alimento histórico por trás dos conflitos gerais que decorrem nesta narrativa - o debate pulsante sobre os direitos civis dos negros -, embora o filme se feche em um intrincado cenário que ao mesmo tempo em que o torna curioso, também e o deixa limitado, falho e duvidoso. Pra ser mais exato, “The Help” é um filme sobre o preconceito racial sofrido pelas tradicionais domésticas de cor negra que costumavam servir famílias ricas e de cor branca. No entanto, ao focar-se neste cenário, o longa deixa de notar seus arredores. Não há, praticamente, homens negros na narrativa; não é conferido a eles a voz; tudo o que vemos são as criadas e suas sofridas e humilhantes rotinas como serviçais de famílias brancas. As aspirações do filme são nobres, mas narrativamente falhas, embora consiga contar uma história envolvente, bem atuada e ocasionalmente divertida - isso quando não decide forçar seu drama e fazer seu espectador chorar, o que, para o insucesso da obra, acontece com mais frequência do que o bom senso dita. Embora possa ser ignorância pessoal, não sei ao certo se a maldade para com as empregadas negras era tão unânime e humilhante quanto à mostrada neste filme, mas tampouco duvido da possibilidade de que isso realmente acontecia ao menos em alguns lares, afinal, a segregação da época me convence de que as famílias de fato destinavam um banheiro exclusivo para seus empregados negros, entre outras coisas. Por outro lado, a tendência do roteiro em pintar uma comunidade tão severa e convencida de como exatamente tratar as serviçais negras apenas levanta suspeita e incerteza sobre o apuro histórico da história. E é aí que reside outro erro de “The Help”. Existem os personagens que representam pessoas para serem gostadas, e outros que representam figuras para serem detestadas. Para isso, os estereótipos vêm na mão do roteirista. A personagem de Bryce Dallas Howard, Hilly, por exemplo, é uma megera caricata, sem dimensões e estereotipada; uma figura maniqueísta fabricada única e exclusivamente para ser odiada. Da mesma forma, o filme é hábil ao moldar personagens para que despertem simpatia (como no caso da dona de casa vivida por Jessica Chastain) e desprezo mesmo quando não atingem o nível de baixo de Hilly (como todas suas amigas enjoadas e antipáticas). Enquanto isso, as personagens de Viola Davis e Octavia Spencer, as duas principais empregadas negras da história, parecem ser as únicas figuras do filme dotadas de humanidade. Muito disso se deve à atuação de ambas; principalmente de Viola, que ao contrário de sua colega (um pouco mais estereotipada, ainda que convincente) oferece uma interpretação nuançada e sensível. Emma Stone, por sua vez, faz bem, ainda que o roteiro ofusque as qualidades de sua personagem ao lhe conferir subtramas desnecessárias (como a de seu namorado) a fim de estabelecê-la como protagonista de uma história que claramente pertence à Aibileen (Viola) - e mesmo na tentativa de comentar, além das questões raciais, a ascendência da mulher independente, progressista e liberal, o excesso de atenção voltada para a personagem de Stone não deixa de soar fora de eixo. Da mesma forma, a presença de um câncer na vida de sua mãe (vivida pela ótima Allison Janney) parece se dar apenas para que sintamos mais pena de sua personagem, assim como o marido abusivo de Minny (Spancer), que existe somente para que o drama da personagem seja realçado, ainda que o abuso não tenha nada a ver com questões raciais. Por outro lado, a dramatização de Aibileen, calcada na perda de seu filho, é a única da trama que apresenta relevância temática e que manifesta-se convincentemente. “The Help” é exageradamente dramático, embora assuma um tom leve e por vezes cômico (vide a história do torta de fezes, que é ridícula e irrelevante, mas que de certa forma funciona) que o salva de maiores embaraços. Proporcionando um olhar valioso ao passado, as qualidades do filme residem não no que supostamente ocorreu, da forma como foi retratado aqui, mas sim no que muito provavelmente aconteceu dentre tudo o que o filme contou.
caetanobcb's rating:


“Horrible Bosses” é dotado de uma fascinação cômica que raramente funciona. O filme nos oferece um cenário amoral, repleto de personagens cujas relações, pelo bem ou pelo mal, são fundadas em sentimentos e interesses condenáveis e nefastos. Os três amigos principais, Kurt, Nick e Dale, vividos, respectivamente, pelos ótimos Jason Sudeikis, Jason Bateman e Charlie Day, se conhecem desde colégio. Sabemos, então, que são amigos de longa data e que compartilham a raiva que possuem por seus abusivos e desprezíveis chefes. Embora tenham uma sólida amizade, o trio se ata durante a narrativa por outro motivo, o de matar seus chefes e encerrar de uma vez por todas a agonia e os abusos que sofrem no local de trabalho. A decisão que tomam frente a tal insatisfação é tão repreensível quanto os comportamentos de seus alvos. No entanto, o roteiro toma um cuidado especial para que os três amigos não pareçam arbitrariamente ruins e imorais como seus chefes. Ao conferir um fundo à amizade deles (mencionando que se conhecem desde o colegial), o roteiro nos permite enxergá-los como adultos imaturos que, ao menos quando estão juntos, ainda demonstram uma linguagem solta e rude, além de comportamentos estúpidos e irracionais que são remanescentes de seus idos tempos de colegial - algo que se contrasta inteligentemente com a postura consideravelmente madura e profissional que desempenham quando estão em seus empregos; traço que, inclusive, os fazem ainda mais tolerantes e vulneráveis diante da postura boçal daqueles a quem respondem. Por outro lado, os horríveis chefes são verdadeiros deleites cômicos justamente por dispensarem qualquer esboço de simpatia, dando ao seus interpretes, Kevin Spacey, Jennifer Aniston e Colin Farrell, uma oportunidade única para se divertirem na composição de tais criaturas irreais, tornando-as tão horríveis quanto o título do filme sugere, mas ainda assim lúdicas e preciosas para fins de humor negro. Bastam apenas algumas visitas ao trabalho dos personagens (e são poucas, considerando que o filme tem a maior parte de sua ação desenvolvida em outros cenários) para que se possa legitimar, diegeticamente, a escolha do assassinato como alternativa para cessar o conflito dos personagens principais. Mas é especialmente nas trocas de diálogos triviais, bem como nas impensáveis atitudes de seus protagonistas, que “Horrible Bosses” se revela eficaz na tarefa de arrancar risadas. Sudeikis, Bateman e Day exibem um entrosamento cômico exemplar; a troca de diálogos é hábil, com um ar de improvisação; e a camaradagem de um personagem com o outro é tão palpável quanto o egoísmo dos mesmos - algo que o roteiro reconhece sabiamente nos momentos mais oportunos, rendendo passagens impagáveis como aquela em que o trio se encontra na delegacia medindo os crimes que até então cometeram e tentando se safar (ao jogar a culpa no outro) da responsabilidade por tudo o que aconteceu. Além de ainda contar com personagens menores inspirados (como o ex-colega do trio vitimado pela crise econômica, e o ex-presidiário - e conselheiro de assassinato - vivido por Jamie Foxx), o filme ainda conta com algumas piadas recorrentes engraçadas e importantes para uma compreensão maior de seus personagens - e aqui, destaca-se especialmente a tendência azarada de Dale em se envolver em todo o tipo de negatividade envolvendo sexo. (O personagem faz parte da lista de agressores sexuais por ter urinado em um parquinho sem crianças (algo que realmente pode acontecer), além de ser vítima de abusos e até de estupro por parte de sua atraente chefe dentista - sofrimento que aos olhos de seus amigos jamais rivaliza com o que aguentam dos outros chefes). Os amigos acabam não matando ninguém, ao menos não de forma direta. Suas intenções jamais se materializam da forma como visionaram, e as repreensíveis peripécias dos três são regadas de momentos absolutamente hilários que mais residem nas consequências de suas inexperiências e da estupidez adolescente que possuem do que no resultado imoral que seus atos visam. E no final, não há nenhuma moral pra combater a amoralidade, há apenas um personagem fazendo o que ele gostaria de fazer desde o início, só que de uma forma menos reprovável, já que simplesmente não conseguiu por meio do assassinato.
caetanobcb's rating:


The Ides of March (2011)
Pode parecer que, por se estabelecer em um intrincado cenário político, “The Ides of March” é um filme sobre polícica. Mas a política que nós vemos no filme não é a verdadeira política, ou ao menos não aquela fundamentada por seu significado semântico. O que os personagens efetuam em “The Ides of March” não é a ciência da política, de governar; é um jogo competitivo de invariáveis consequências emocionais, embora a maioria delas - senão todas - sejam reprimidas; enquanto isso, a teoricamente verdadeira política, aquela que nossos governantes devem executar quando estão no poder, é espremida aqui em forma de enunciados, promessas, de discursos chavões que todo tipo de candidato oferece quando sobe no palanque. E ainda que este filme proporcione uma realista e incisiva - se abstendo do ambiente artificialmente cínico - visão dos bastidores de uma campanha de um dos prováveis candidatos democrata à presidência dos EUA, “The Ides of March” é, na verdade, sobre o que é expelido de tudo isso: o delicado efeito dominó que se situa no interior de tal cenário; a hipocrisia e os instintos elementares que conduzem o mundo; e, mais importante, o grande tema do filme: a culpa reprimida. Em uma astuta sacada, os argumentistas do filme estabelecem aqui um inteligente, simpático democrata liberal como centro de toda a história, em vez de um óbvio republicano cínico de ideias reacionárias. Vivido por George Clooney, que também dirige o longa, o candidato Morris é um homem perito com as palavras e que sabe como apetecer as mentes progressivas com o que tem a dizer; na realidade, seu personagem é até bom demais para ser verdade, embora o roteiro jamais coloque em dúvida suas nobres ideologias, porque, claro, isso não é um filme óbvio “sobre” política, e o podre parte de outras direções. Entretanto, é fantástico como o roteiro ainda consegue introduzir um convincente contraponto nos discursos do democrata, que aqui e ali se revela um candidato com lustradas e sedutoras aspirações liberais, mas que de fato falha na tarefa de dizer como suas ideias podem ser traduzidas em ações práticas e funcionais. Mas Morris, de certa forma, é um coadjuvante no filme, pois o longa é dotado de outro interessante e bem mais ambíguo personagem, encarnado pelo excelente Ryan Gosling em uma memorável performance. O ator interpreta o diretor de comunicações da campanha de Morris, chamado Stephen Meyers, um jovem que diz acreditar nos ideais de seu chefe e que assume isso como a única razão para o qual desempenha seu trabalho - de uma maneira bastante eficiente, diga-se. Contudo, seja pelas controladas expressões cínicas de Gosling, pela forma como ele exprime seus diálogos ou pelo fato de que seu personagem realmente se encontrou com o diretor da campanha do candidato da oposição, Stephen nunca deixa de soar dúbio - e nós esperamos que venha dele, o personagem com maior tempo de tela, o grande podre prestes a explodir na narrativa. “The Ides of March”, porém, não é um filme sobre a culpa de um homem, mas sim sobre a culpa de vários homens e mulheres responsáveis por uma tragédia que emerge e é rapidamente suprimida pela forma como opera a política por trás da verdadeira política. Como mencionado no discurso de um personagem em um funeral; “...Um mundo onde todo erro é ampliado”. As razões para que todo erro seja ampliado todos sabemos: hipocrisia, poder, o zelo pela aparência em detrimento da transparência, e assim por diante. Clooney, por trás das câmeras, perfaz um filme realista no que tange o ambiente político e igualmente realista no que tange os temas emocionais de sua trama. Ele escolhe por expor o que todos sabemos de uma forma não-óbvia, e ainda faz com que seu filme funcione como um thriller absolutamente envolvente. Quanto ao seu dúbio protagonista, o longa demonstra mais um indicativo de sua qualidade, tornando o que era ambíguo em complexo, e nos fornecendo uma das retratações mais impressionantes do conflito emocional de um personagem em meio a um cenário como este.
caetanobcb's rating:


Há muitas coisas que fazem de “Moneyball” um dos melhores filmes do subgênero esportivo dos últimos tempos. Há, também, muitas coisas que fazem “Moneyball” se distanciar do rótulo de “filme esportivo” - mesmo que, em uma combinação surpreendentemente eficaz, o longa comedidamente abrace o romantismo do esporte (no caso, o basebol) ao mesmo tempo em que o contesta severamente sob diferentes camadas. Mas o que realmente faz de “Moneyball” uma obra genial e que permanece viva em sua mente é mesmo seu protagonista; um personagem tridimensional que em meio a um filme de vários atrativos, consegue se destacar, de longe, como a melhor coisa dele.
Nós temos um protagonista, o gerente do time de basebol Oakland A's Billy Beane, vivido por Brad Pitt em uma interpretação que reúne os habituais trejeitos do ator, mas que é potencializada pelas nuances que o roteiro lhe confere - e que Pitt, mesmo num aparente piloto automático, consegue absorver com segurança e frescor. Sua equipe vem de mais um fracasso no campeonato, e as perspectivas para o ano seguinte são péssimas, já que, além de terem perdido três de seus principais jogadores para times rivais, o clube simplesmente não tem o dinheiro que os outros times possuem, deixando-os em uma posição “injusta” em relação aos grandes e mais endinheirados - como percebe e faz questão de enfatizar Billy.
Billy se desentende com todos os outros gerentes, conselheiros e olheiros de seu clube. Todos seus colegas são senis, velhos (algo ressaltado pelo curioso casting do filme), e mesmo assim é Billy, um ex-jogador de basebol e significantemente novo perto dos outros, o encarregado de tomar as principais decisões. Então Billy traz para sua assistência um garoto ainda mais novo, o graduado em economia pela Yale de nome Peter Brand (Jonah Hill), um brilhante nerd que reproduz um método de estatísticas criado para a melhor obtenção de resultados. É um esquema que, além de financeiramente em conta, é completamente racional, frio e que, perto da cimentada experiência e intuição esportiva, é um tanto quanto duvidosa.
Mas Billy e Peter, bem como o roteiro do filme, são convictos dessa nova filosofia, e convincentes ao teorizá-la. E as demonstrações preliminares do método, que se dão antes das novas contratações serem efetivamente feitas, são impressas de forma fascinante pelo longa. Eu, particularmente, não gosto de esportes, de nenhum. Não tenho nenhuma objeção quanto à prática, apenas não me interessa o esporte comercializado e fanatizado. Muito disso se deve ao fato de que a competição esportiva é consumida de maneira irracional. É compreensível que o sentimento de torcida seja puramente emocional, um amor, uma paixão. Mas a que propósito? Para ganhar uma competição que tem valor único e puramente interno?
Talvez seja por isso que, embora o foco do filme seja outro (não a torcida, mas a gerência por trás de um time, ainda que o roteiro toque em alguns pontos que mencionei acima), a trama de “Moneyball” e seu propósito tenha me fascinado tanto. A filosofia adotada por Billy é um verdadeiro baque sobre uma esfera tão instintiva como a do esporte. Nessa nova abordagem, tudo se resume à matemática. Jogadores são avaliados por por dados estatísticos, por números - o que diz muito sobre o protagonista, que rapidamente acolhe essa ideia sem nenhum tipo reserva e a defende tanto quanto seu colega Peter, uma vez que confessa se distanciar ao máximo dos jogadores a fim de não criar laços emocionais apenas para facilitar na provável hora de demiti-los.
Billy Beane, aliás, é um dos personagens mais fascinantes e complexos já construídos em um filme do gênero. Na superfície, demonstra ter uma personalidade direta, segura e prática que, no entanto, apresenta pequenas reações agressivas e sistemáticas que parecem servir como uma válvula de escape fugaz - e que até mesmo confere momentos cômicos ao filme devido à desproporção desses pequenos atos, como o de atirar uma cadeira com toda a força para fora de sua sala ou ainda derrubar um recipiente de Gatorades no vestiário mesmo depois de ter sido bastante claro em seu curto e objetivo discurso (algo que o personagem também costuma fazer). Mais a fundo, o roteiro proporciona rápidos mergulhos ao passado e à vida pessoal do personagem, desenhando uma figura de múltiplas e palpáveis dimensões que se contesta até o final da narrativa.
É interessante como “Moneyball”, por sua abordagem fria e que basicamente se abstém do brilho esportivo, passa, aos poucos, a aspirar o romantismo habitual do tema conforme os percalços da nova filosofia de gerência surgem no caminho dos personagens, os forçando a alterar um pouco suas atitudes. Os roteiristas passam a injetar mais humanidade na história, estabelecendo uma transição a Billy, permitindo que o personagem se socialize e aconselhe diretamente os membros de seu time; que vibre com aquisições de novos jogadores e que até mesmo se sinta tentado a abandonar seu velho habito de não assistir/ouvir aos jogos de sua equipe - um comportamento que, levando em conta a natureza questionadora e racional do ex-jogador, visa muito mais amenizar seu nervosismo do que de fato exercer algum tipo de superstição.
Dito isso, o caráter mais humanizado e romantizado que o filme assume ao longo de boa parte de sua segunda metade funciona surpreendentemente. Mas não apenas pela construção das cenas (que aqui investem nas típicas tomadas em câmera lenta, a trilha sonora tensa e até mesmo numa montagem em particular que combina um importante lance de um jogo com pequenos flashs da vida do protagonista - muito semelhante a uma passagem de “Somos Marshall”), como também pelo fato de traduzirem o estado emocional de Beane. Ao passo que o peso emocional que afeta outros personagens, em específico alguns jogadores da equipe, pode também ser reconhecido em tais cenas graças à forma econômica como a direção ilustra, no decorrer da narrativa, a significância que aquela oportunidade tem para eles.
“Moneyball” apresenta as tradicionais passagens de tensão esportiva, mas não as de triunfo. Depois que o Oakland A's bate o recorde de vitórias no torneio, são derrotados na partida final, e a narrativa adentra uma nuvem sombria que afeta profundamente Billy. Para entender perfeitamente as motivações do personagem, teríamos que recorrer a um psicanalista, já que nem o gerente parece compreender sua atração pelo basebol, ou ao menos admitir as intenções que teve quando abandonou a carreira de jogador para se tornar gerente, bem como o motivo preciso de empregar a filosofia do Moneyball no esporte (quando confrontado por um colega, no entanto, Beane manifesta uma mágoa que claramente pesou nessa sua postura atual). Não obstante, Billy é um personagem nítido; sua incerteza interna pode ser identificada e até sentida - provando que, mesmo para um filme essencialmente calculista e que não se entrega aos elementos piegas de um drama esportivo, “Moneyball” é sensível e um tanto comovente, especialmente considerando o belo plano final do longa, que faz uso de uma linda e significante canção ao mesmo tempo em que foca o protagonista em seu estado emocional mais íntimo.
Apesar de todas as dúvidas e da desorientação interna de Billy Beane, este exprime finalmente um propósito: o de fazer a diferença (algo que ecoa sua frustração inveterada com o esporte), mesmo em um mundo sem razões suficientes como o basebol ou qualquer outro esporte (como o próprio personagem sugere em um ótimo diálogo com Peter). A certeza é que, ganhando ou perdendo, Billy de fato fez a diferença (o método do Moneyball passou a ser usado pelo Red Sox, que depois de muito tempo conquistou o campeonato), como nos revela os dizeres finais sobre o futuro do Billy Beane da vida real. Mas é mesmo no sensível e melancólico estado emocional em que a narrativa deixa seu protagonista que é sintetizada as virtudes de “Moneyball”: uma obra que embora proporcione as emoções providas dos duelos esportivos, também altera estes sentimentos ao oferecer uma antítese à maneira como as competições são engendradas, assim ofuscando sua tão dita glória; e tudo isso, claro, desenvolvendo um personagem absolutamente complexo e humano, apesar do seu embate extremamente racional com o esporte que, querendo ou não, acabou moldando a sua vida.
Nós temos um protagonista, o gerente do time de basebol Oakland A's Billy Beane, vivido por Brad Pitt em uma interpretação que reúne os habituais trejeitos do ator, mas que é potencializada pelas nuances que o roteiro lhe confere - e que Pitt, mesmo num aparente piloto automático, consegue absorver com segurança e frescor. Sua equipe vem de mais um fracasso no campeonato, e as perspectivas para o ano seguinte são péssimas, já que, além de terem perdido três de seus principais jogadores para times rivais, o clube simplesmente não tem o dinheiro que os outros times possuem, deixando-os em uma posição “injusta” em relação aos grandes e mais endinheirados - como percebe e faz questão de enfatizar Billy.
Billy se desentende com todos os outros gerentes, conselheiros e olheiros de seu clube. Todos seus colegas são senis, velhos (algo ressaltado pelo curioso casting do filme), e mesmo assim é Billy, um ex-jogador de basebol e significantemente novo perto dos outros, o encarregado de tomar as principais decisões. Então Billy traz para sua assistência um garoto ainda mais novo, o graduado em economia pela Yale de nome Peter Brand (Jonah Hill), um brilhante nerd que reproduz um método de estatísticas criado para a melhor obtenção de resultados. É um esquema que, além de financeiramente em conta, é completamente racional, frio e que, perto da cimentada experiência e intuição esportiva, é um tanto quanto duvidosa.
Mas Billy e Peter, bem como o roteiro do filme, são convictos dessa nova filosofia, e convincentes ao teorizá-la. E as demonstrações preliminares do método, que se dão antes das novas contratações serem efetivamente feitas, são impressas de forma fascinante pelo longa. Eu, particularmente, não gosto de esportes, de nenhum. Não tenho nenhuma objeção quanto à prática, apenas não me interessa o esporte comercializado e fanatizado. Muito disso se deve ao fato de que a competição esportiva é consumida de maneira irracional. É compreensível que o sentimento de torcida seja puramente emocional, um amor, uma paixão. Mas a que propósito? Para ganhar uma competição que tem valor único e puramente interno?
Talvez seja por isso que, embora o foco do filme seja outro (não a torcida, mas a gerência por trás de um time, ainda que o roteiro toque em alguns pontos que mencionei acima), a trama de “Moneyball” e seu propósito tenha me fascinado tanto. A filosofia adotada por Billy é um verdadeiro baque sobre uma esfera tão instintiva como a do esporte. Nessa nova abordagem, tudo se resume à matemática. Jogadores são avaliados por por dados estatísticos, por números - o que diz muito sobre o protagonista, que rapidamente acolhe essa ideia sem nenhum tipo reserva e a defende tanto quanto seu colega Peter, uma vez que confessa se distanciar ao máximo dos jogadores a fim de não criar laços emocionais apenas para facilitar na provável hora de demiti-los.
Billy Beane, aliás, é um dos personagens mais fascinantes e complexos já construídos em um filme do gênero. Na superfície, demonstra ter uma personalidade direta, segura e prática que, no entanto, apresenta pequenas reações agressivas e sistemáticas que parecem servir como uma válvula de escape fugaz - e que até mesmo confere momentos cômicos ao filme devido à desproporção desses pequenos atos, como o de atirar uma cadeira com toda a força para fora de sua sala ou ainda derrubar um recipiente de Gatorades no vestiário mesmo depois de ter sido bastante claro em seu curto e objetivo discurso (algo que o personagem também costuma fazer). Mais a fundo, o roteiro proporciona rápidos mergulhos ao passado e à vida pessoal do personagem, desenhando uma figura de múltiplas e palpáveis dimensões que se contesta até o final da narrativa.
É interessante como “Moneyball”, por sua abordagem fria e que basicamente se abstém do brilho esportivo, passa, aos poucos, a aspirar o romantismo habitual do tema conforme os percalços da nova filosofia de gerência surgem no caminho dos personagens, os forçando a alterar um pouco suas atitudes. Os roteiristas passam a injetar mais humanidade na história, estabelecendo uma transição a Billy, permitindo que o personagem se socialize e aconselhe diretamente os membros de seu time; que vibre com aquisições de novos jogadores e que até mesmo se sinta tentado a abandonar seu velho habito de não assistir/ouvir aos jogos de sua equipe - um comportamento que, levando em conta a natureza questionadora e racional do ex-jogador, visa muito mais amenizar seu nervosismo do que de fato exercer algum tipo de superstição.
Dito isso, o caráter mais humanizado e romantizado que o filme assume ao longo de boa parte de sua segunda metade funciona surpreendentemente. Mas não apenas pela construção das cenas (que aqui investem nas típicas tomadas em câmera lenta, a trilha sonora tensa e até mesmo numa montagem em particular que combina um importante lance de um jogo com pequenos flashs da vida do protagonista - muito semelhante a uma passagem de “Somos Marshall”), como também pelo fato de traduzirem o estado emocional de Beane. Ao passo que o peso emocional que afeta outros personagens, em específico alguns jogadores da equipe, pode também ser reconhecido em tais cenas graças à forma econômica como a direção ilustra, no decorrer da narrativa, a significância que aquela oportunidade tem para eles.
“Moneyball” apresenta as tradicionais passagens de tensão esportiva, mas não as de triunfo. Depois que o Oakland A's bate o recorde de vitórias no torneio, são derrotados na partida final, e a narrativa adentra uma nuvem sombria que afeta profundamente Billy. Para entender perfeitamente as motivações do personagem, teríamos que recorrer a um psicanalista, já que nem o gerente parece compreender sua atração pelo basebol, ou ao menos admitir as intenções que teve quando abandonou a carreira de jogador para se tornar gerente, bem como o motivo preciso de empregar a filosofia do Moneyball no esporte (quando confrontado por um colega, no entanto, Beane manifesta uma mágoa que claramente pesou nessa sua postura atual). Não obstante, Billy é um personagem nítido; sua incerteza interna pode ser identificada e até sentida - provando que, mesmo para um filme essencialmente calculista e que não se entrega aos elementos piegas de um drama esportivo, “Moneyball” é sensível e um tanto comovente, especialmente considerando o belo plano final do longa, que faz uso de uma linda e significante canção ao mesmo tempo em que foca o protagonista em seu estado emocional mais íntimo.
Apesar de todas as dúvidas e da desorientação interna de Billy Beane, este exprime finalmente um propósito: o de fazer a diferença (algo que ecoa sua frustração inveterada com o esporte), mesmo em um mundo sem razões suficientes como o basebol ou qualquer outro esporte (como o próprio personagem sugere em um ótimo diálogo com Peter). A certeza é que, ganhando ou perdendo, Billy de fato fez a diferença (o método do Moneyball passou a ser usado pelo Red Sox, que depois de muito tempo conquistou o campeonato), como nos revela os dizeres finais sobre o futuro do Billy Beane da vida real. Mas é mesmo no sensível e melancólico estado emocional em que a narrativa deixa seu protagonista que é sintetizada as virtudes de “Moneyball”: uma obra que embora proporcione as emoções providas dos duelos esportivos, também altera estes sentimentos ao oferecer uma antítese à maneira como as competições são engendradas, assim ofuscando sua tão dita glória; e tudo isso, claro, desenvolvendo um personagem absolutamente complexo e humano, apesar do seu embate extremamente racional com o esporte que, querendo ou não, acabou moldando a sua vida.
caetanobcb's rating:


One Day (2011)
“One Day” tem uma interessante atitude: a de contar, partindo de uma diferente abordagem, uma tradicional história de encontros e desencontros sentimentais entre dois amigos apaixonados que, devido às intempéries da vida e principalmente à própria resistência de ambos em consumar um relacionamento amoroso, acabam perdendo diversas oportunidades de serem felizes juntos. Para dar novos ares a esse tipo de história, é adotada uma curiosa estrutura que narra a história dos personagens ao focar-se exclusivamente em uma data específica de cada ano: o dia 15 de Julho. Este “um dia” foi o primeiro em que os amigos de fato estabeleceram uma conexão amorosa, quando dividiram um quarto logo após a graduação deles, em 1988. É, também, o dia em que a garota, Emma, dezoito anos depois, morreu acidentada, para a devastação de seu agora marido Dexter. A princípio, unir uma estrutura fresca a um tema batido soa interessante, mas a impressão final é a de que o esforço da originalidade foi um insucesso, já que a estrutura de “Onde Day”, se por um lado curiosa, por outro se revela incrivelmente desinteressante e aborrecida para o desenvolvimento da história, além de também não camuflar as obviedades do longa. Jim Sturgess e Anne Hathaway vivem o casal de protagonistas; eles possuem uma estranha química, que de alguma forma funciona; afinal de contas, mesmo que pareçam errados um para o outro, uma das óbvias observações que o filme faz é a de que os opostos se atraem. Isso é ressaltado pela própria forma como o casal é pintado: o personagem de Sturgess, Dexter, é, durante boa parte do filme, um típico sujeito espertinho e atrevido, que se arrasta por uma vida regada de hábitos prejudiciais e comportamentos imprudentes, enquanto Emma, por sua vez, exibe uma prudência tão regulada que, ao contrário de Dexter, quase nunca se entrega aos impulsos ou coloca em prática seus desejos - algo exemplificado pela própria dinâmica do casal, que se resume a investidas de Dexter e resistências por parte de Emma. No entanto, embora tonalmente corretos, o casal carece de vibração, o que põe a perder boa parte de nosso interesse por seus encontros. Muito tempo de suas vidas é omitido, já que tudo que vemos se limita ao 15 de julho. A justificativa final para toda a atenção voltada a esse dia é tematicamente e retrospectivamente relevante, porém não suficiente. Durante o filme, o pensamento que pulsa é o de que a narrativa poderia nos mostrar diferentes datas que não faria a menor diferença, e que o filme seria tão óbvio quanto já é. A obviedade, aliás, é algo notório em “One Day”. O próprio arco narrativo de Dexter, assim como o personagem em si, é absolutamente gasto - e se sua antipatia patente é curada quando este se casa e tem uma filha, tornando-se um sujeito muito mais suave e agradável, sua história não deixa de soar óbvia e previsível. Até mesmo quando o longa se esforça para dramatizar o personagem por outras tangentes - como no relacionamento com seus pais -, este ainda recai em clichês, vide a mãe que sofre, claro, de câncer. Apesar de tudo, “Onde Day” consegue nos ganhar gradualmente, assim que sua narrativa ruma para o trágico final, e assim que apresenta uma razão para ser do jeito que é (embora, repito, seja insuficiente). O filme finalmente adquiri vibração em seus instantes finais, e nos oferece uma visão realmente bonita e reflexiva sobre a experiência que seus personagens partilharam durante os anos que puderam ficar juntos, casados ou como amigos. E mesmo que tente adocicar um pouco seu amargo desfecho, o longa expressa uma tristeza cortante que se torna ainda mais intensa quando percebemos o quanto poderia ser diferente para ambos os personagens se agissem de outra forma. Mas é fato que o adiamento dessa união amorosa foi influenciado muito mais pelas escolhas pessoais do casal do que pelas interferências do acaso, e que se fossem pra ficar efetivamente juntos, deveria ser mesmo dessa forma, e por esse período de tempo. É só uma pena que, embora “Onde Day” recompense no final, seja, ainda, um filme tão desinteressante de se assistir.
caetanobcb's rating:


Load more items (67 more in this list)
 Login
Login

 15
15
 7.2
7.2
 7.3
7.3